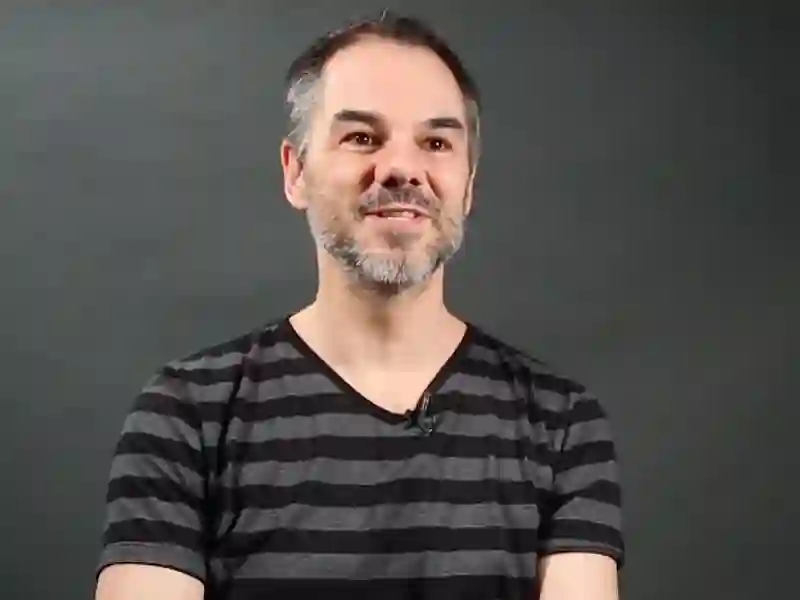
Durante cerca de uma década, o diretor Rodrigo John filmou os acontecimentos que via pela janela do seu apartamento em Porto Alegre. Inicialmente, este era apenas o passatempo de um artista com a perna imobilizada após um acidente. Depois, com as transformações históricas e políticas do Brasil, a brincadeira se tornou um modo interessante de representar uma nação mais agressiva e dividida. Nasce então Mirante (2019), belo exercício de equivalência sobre o ato de ver e ser visto, ou sobre o poder de quem controla as filmagens ecoando o poder de quem controla o funcionamento social.
À medida que as ruas são tomadas por manifestantes e as sacadas são ocupadas por paneleiros, John traça a crônica conceitual de uma nação “que naturaliza o extermínio e a pena de morte”, em suas palavras. Ele coloca a si mesmo em cena, ao lado da namorada, representando um personagem que observa passivamente as reivindicações que ocupam as ruas e os noticiários. O Papo de Cinema conversou em exclusividade com o cineasta sobre o filme que chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 19:
Você sempre registrou as imagens da sua janela na intenção de fazer um filme?
Não. No começo, foi por diversão, por passatempo. Tudo aconteceu por acaso: eu tinha comprado uma câmera para fazer a pesquisa de locação de um filme, quando eu devia viajar ao Uruguai. Mas eu rompi o ligamento do joelho e fiquei quase um ano com os pés para cima, até me recuperar. Comecei a brincar de Janela Indiscreta (1954). Isso virou quase uma obsessão. No começo, tinha a brincadeira de sabotar a câmera, registrando defeitos também. Eu fazia principalmente time-lapse. Depois, à medida que a História do Brasil foi virando, percebi que existia ali um olhar sobre o que acontecia. Entendi que aquele material seria interessante para um documentário.
Quem é o personagem principal de Mirante?
A cidade de Porto Alegre. É muito sobre a dinâmica da cidade e a relação dos habitantes com este espaço. Esses fragmentos de narrativa sobre a vida de cada um me interessavam para mostrar que, mesmo de longe, é possível acessar essas relações de poder. É uma espécie de equivalência a São Paulo, Sinfonia da Metrópole (1929). Até onde eu sei, Porto Alegre ainda não tinha a sua sinfonia metropolitana.
Qual é o papel deste personagem fictício que observa pela janela?
Ele é mais um fragmento. Mas não somos protagonistas na história. Ele divide importância com tantos personagens que estão na rua, incluindo aqueles que se repetem. Este personagem nem é tão ficcional, ele na verdade é bastante autobiográfico: somos eu e minha namorada. A gente de fato se separou. Obviamente, a partir do momento em que você liga a câmera, aquilo vira ficção. De certa forma, eu não estava tão alienado como acabei me construindo na montagem: aquele personagem parece muito alheio, mas eu não estava tão alheio assim. Foi se construindo ao acaso a ideia do conforto de um olhar distanciado, a ilusão de que o sangue correndo lá embaixo não chegaria até o apartamento lá em cima.
De fato, a ideia da política praticada nas sacadas dos prédios, em oposição àquela das ruas, adquiriu um significado particular no Brasil pós-2013.
Em 2013, eu custei a entender o que estava acontecendo. Enquanto havia ares de algo novo, já dava para sentir que algo estava fora de lugar. Existe esse episódio, retratado na carta do síndico, quando os moradores da minha rua, dos andares mais altos, jogavam objetos dos manifestantes, desde a prataria da casa até coquetel molotov. A coisa chegou nesse nível, muito insuflada pela mídia, que demonizou o movimento, e depois capitalizou porque poderia resumir diversas pautas.
Você traz muito da política através do som dissociado da imagem.
Isso também não foi preconcebido, aconteceu depois. O exercício sempre disse respeito às imagens, mas eu não prestava muita atenção ao som. Então senti a onipresença da televisão, que ficava sempre ligada. Quando comecei a pensar em montar este material para compor a narrativa de um filme, cheguei a cogitar uma voz over com um narrador falando. Escrevi para um personagem feminino, que seria a minha namorada. Ela ficaria no apartamento e eu iria embora, mas depois acabou acontecendo o contrário. Durante um tempo, criei uma ficção sobreposta às imagens, que seria uma maneira de ter controle sobre a montagem. Esta era uma solução mais fácil, e talvez por ser tão fácil, ela começou a me desagradar.
Então vi a imagem de nós dois no início, apaixonados e indiferentes ao que se dizia na televisão – e o discurso da TV era um absurdo, sobre o massacre do Carandiru. Assim me dei conta que essas vozes no segundo plano ajudariam a criar a narrativa. São os fantasmas dos demônios insepultos da nossa História. Tudo veio à superfície com muita força: desde a ditadura que nunca puniu seus criminosos até a escravidão. Pela voz de quem falava na mídia, percebi uma grande irresponsabilidade. Percebi a raiz do que se traduziu depois em ação, do que vemos hoje: o elogio da ditadura, a naturalização do extermínio e da pena de morte.
Hoje, passado um tempo, muita gente que ajudou a construir essa situação adota um tom mais moderado, volta atrás, como se isso os redimisse. Mas estas pessoas também têm as mãos sujas de sangue. Existe uma gigantesca máquina de desinformação e de manipulação por trás de tudo o que está acontecendo no Brasil. Tudo isso estava presente desde antes de 2013, com as tentativas de demonizar a esquerda. O PT no poder representou um centro-esquerda, embora tenha sido tratado como esquerda radical. Além disso, o partido apanhou pelas coisas que fez de correto, e não por seus erros. A mídia começou a tratar as pautas identitárias como aberrações desde antes de 2013.
Essas vozes de um passado recente, que defendem o conservadorismo mas não possuem rosto no filme, possuem um caráter fantasmagórico.
O exercício de montagem foi uma tentativa de exorcizar estes fantasmas, e tentar encontrar por outros sentidos o que a razão já não dava conta. Foi uma tentativa de troca dentro de uma polarização, quando se construiu uma muralha entre dois lados, até mesmo dentro das famílias. Busquei essa tentativa de diálogo de outras formas menos racionais dentro do filme, mobilizando outras emoções para além da razão. Era uma maneira de digerir o que eu ainda não conseguia compreender. Eu precisava canalizar estes pensamentos de alguma maneira, e o filme acabou servindo de veículo para isso.
Você parece ter bastante material à disposição. Em que medida existia um roteiro prévio, e o quanto de Mirante nasceu na montagem?
Eu trabalho como roteirista de animação, é uma das coisas que mais fiz no cinema. O roteiro de animação corresponde praticamente à montagem final, porque não pode ter desperdício de trabalho. Se o seu roteiro determina muito bem cada plano, esta já é quase uma decupagem. Trata-se de um processo muito racional e controlado. No Mirante, eu me esforcei para deixar o processo mais livre. Nunca escrevi um roteiro convencional. Nada era aleatório, claro, até porque na hora de escolher entre um plano e outro, você já está roteirizando. Mesmo assim, eu permitia uma abertura por causa da amplitude do material. Por mais que os acontecimentos políticos costurem a vida, o que mais me interessava eram os detalhes da vida cotidiana. Queria encontrar a beleza no banal, dentro de uma região degradada da cidade onde trabalham pessoas invisibilizadas, como lixeiros ou pedreiros.
São essas vidas que interessam, e de que maneira elas ecoam os acontecimentos maiores. É sobre o público invadindo o privado, sobre o confronto entre o lado de dentro e o lado de fora. Ao mesmo tempo que no lado de fora o diálogo está se tornando precário, do lado de dentro do apartamento, estávamos em crise, perto de uma separação. O gesto de olhar para fora, a transparência do vidro supõe que o lado de fora também possa ver o que existia lá dentro. Isso determinou a minha inclusão no filme. Eu detesto aparecer, mas eu precisava disso, fazia parte do jogo. A partir do momento que a Adriana apareceu, eu precisaria aparecer. Existe um caráter de brincadeira, de filme doméstico, quase um diário despretensioso do ponto de vista cinematográfico. Isso teve precedência sobre a excelência técnica. Ficamos muito livres para tratar esse material.
Era importante deixar ambíguo ao espectador o que era, ou não, controlado por você?
Existia esse jogo, tanto por imagens documentais que parecem forjadas, quanto pelo fato que as imagens criadas para o filme, em alguma medida, eram documentais. O ponto de vista de quem observa, e de onde observa, altera o que é observado. Esse se tornou um critério para aplicar um filtro poético sobre a realidade. A realidade, depois de filmada, nunca corresponde exatamente ao que havia ali, como no momento em que eu manipulo as sombras, perto do final. Outra coisa que pautou as decisões foi o fato de que o sonho, a memória e a fantasia são dimensões da realidade, também fazem parte do registro documental, mesmo que exista uma liberdade poética.
Com essas questões em mente, por exemplo, existe a cena com um casal transando num apartamento. Eu convidei os dois para fazerem alguma coisa dentro desse apartamento, sem dizer o quê. Só avisei que a câmera estaria ali, filmando os dois. Mas eu não sabia o que iriam fazer. Os dois são namorados, e fizeram esta cena de sexo. Ao mesmo tempo, eu tinha na minha frente um casal real que transava com frequência de janela aberta. Como tinham muitas janelas, eles não se importavam de serem vistos. Mas na hora de buscar os direitos de imagem, seria muito esquisito bater na porta deles e dizer: “Tenho imagens de vocês transando, e gostaria de usar num filme”. Não era possível. Outra cena forjada, ficcional a princípio, se passa na sala de um apartamento, mas eu já tinha convidado estas pessoas alguns anos antes para outro projeto. Então estava dentro da regra do jogo: era algo filmado de dentro do apartamento, através da janela, e aquelas imagens já existiam. Isso não me parecia desrespeitar a premissa. Mesmo se não tivesse nenhuma cena controlada pela direção, alguns acontecimentos espontâneos pareciam falsos. Este jogo não é central no filme, porque as cenas criadas são exceções.
Você falou sobre a observação dos vizinhos. Considera Mirante um filme voyeur?
Totalmente. A minha obsessão de ficar espiando não me deixa negar. Enquanto eu filmava, fui me tornando progressivamente voyeurista. Ao mesmo tempo, existia um conceito de evasão de privacidade. Por exemplo, este casal que transava perto da janela estava evadindo a privacidade deles, ao invés de eu invadi-los. Mas o jogo do olhar era este.
Mirante também é uma obra metalinguística, sobre a mudança na maneira como fazemos e consumimos cinema.
A tecnologia mudou muito durante este período, e facilitou demais. Passei muitos anos filmando, e a produção se tornaria muito cara se eu estivesse filmando com película. A portabilidade do equipamento, a facilidade de sair correndo para a janela quando algo acontecia foi fruto da tecnologia. Além disso, havia a questão do amador invadir o profissional. Como todo mundo tem uma câmera hoje, trabalhar com esta linguagem se tornou uma rotina. O filme não se apresenta enquanto um saber especializado que destoa da brincadeira de estar em casa. Pelo contrário, era bom que tivesse um aspecto caseiro, com nós dois também evadindo a nossa privacidade. A maneira como a minha imagem e da Adriana aparece pode soar um pouco constrangedora, mas ao mesmo tempo é tão conhecido e trilhado o processo de uma separação amorosa que não interessava muito o que estávamos dizendo, nem o motivo da separação. Não queria criar uma ficção em cima disso, até porque, no auge da crise, nós não nos filmamos. Essa era mais uma questão que aparecia em paralelo com as outras.
Você se preocupou com a exposição da imagem dela em pleno término? A questão de exibir imagens íntimas sempre desperta conflitos morais.
Na verdade, a gente voltou depois do término, e ela é a produtora do filme. Então não tive problemas com isso. No que diz respeito às imagens dos vizinhos, a gente consultou um escritório de advocacia especializado em direitos autorais. Foram advogadas ótimas que pesquisaram caso a caso, determinando o que poderíamos ou não mostrar. Isso determinou as nossas escolhas. Algumas coisas geniais não puderam ser incluídas no filme. Por exemplo, tinha um senhor obeso que andava seminu na sacada do prédio à frente. Em um momento, quando ele sai da sacada, dá para perceber um boneco do Fofão. Ao mesmo tempo que havia humor ali, também se inseria uma possível relação de afeto com os netos, além de uma aceitação da parte dele, ainda que o boneco ficasse na parte de fora da casa… Eu gostava muito dessa imagem, mas quando procuramos por este senhor, conversamos com a esposa dele e descobrimos que ele tinha falecido um mês atrás. Ela não queria tocar no assunto, não queria que isso aparecesse. Era compreensível, claro. Então a cena ficou de fora.