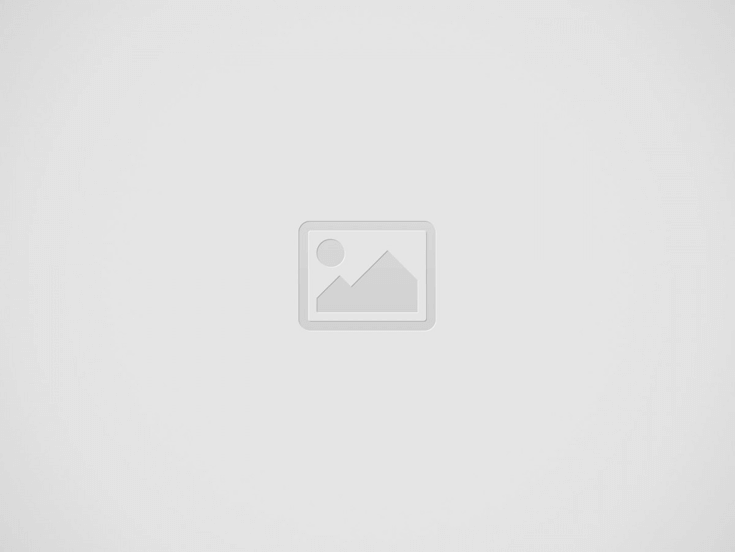

Em 2020, um filme se destacou de tal modo no Festival de Veneza que conquistou uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional: o tunisiano O Homem que Vendeu sua Pele, de Kaouther Ben Hania. A cineasta narra a história de dois amantes afastados pelas convenções sociais: enquanto Abeer (Dea Liane) é obrigada a aceitar um casamento arranjado, o verdadeiro amor de sua vida precisa se exilar por motivos políticos. Para ficar perto de sua amada, Sam Ali (Yahya Mahayni) aceita a proposta inusitada de um artista excêntrico (Koen De Bouw): ele oferece suas costas como tela para uma tatuagem definitiva.
Uma vez transformado em obra de arte, o refugiado rejeitado na Europa consegue o visto necessário para chegar à Bélgica e se aproximar de Abeer. No entanto, sua liberdade é restrita: o jovem é obrigado a permanecer em museus, de costas viradas ao público, exibindo a peça milionária presente em seu corpo. Por incrível que pareça, a história é baseada num caso real. Leia a nossa crítica. O Papo de Cinema conversou com Yahya Mahayni e Dea Liane sobre o belo drama em cartaz nos cinemas brasileiros:
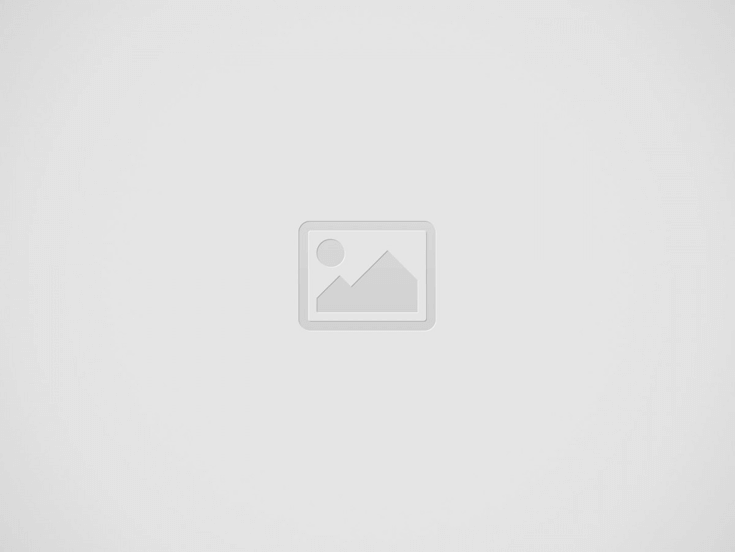

Essa história é baseada no caso de uma tatuagem real. Vocês já conheciam o caso? Pesquisaram a respeito?
Dea Liane: Não, de modo algum. Eu sequer conhecia o nome do artista que tinha feito a tatuagem. Descobri essa história quando li o roteiro, e acredito que tenha sido a mesma coisa para Yahya.
Yahya Mahayni: Exatamente. Quando li o roteiro, fiquei chocado, e fui pesquisar para conhecer o acordo que eles tinham assinado para a obra. Na época, a obra ainda era exibida em museus, mesmo durante a pandemia. Mas para ser sincero, nunca pensei em encontrá-los pessoalmente para conversar. O que me interessava era saber a sensação que eu teria ao ficar horas sentado, dentro de um museu, pelos aspectos físicos mesmo. Em termos de experiência, os casos são diferentes: o homem real já tinha várias tatuagens no corpo, e decidiu livremente se tatuar, enquanto Sam Ali não consegue sua tatuagem por liberdade de expressão, mas por algo próximo da obrigação – ele não tem nenhuma outra maneira de conseguir um visto para visitar a bela Dea.
Como a tatuagem do filme foi feita? Para você, enquanto ator, qual era a sensação de ter este desenho cobrindo as costas?
Yahya Mahayni: O processo foi complicado. O visto Schengen teve que ser desenhado, e Kaouther trabalhou diretamente nisso com o designer gráfico e os artistas de efeitos visuais. Quando decidiram a imagem, o tamanho e o efeito, imprimiram num papel que pode ser molhado. Foi difícil porque era enorme, para cobrir as costas inteiras, e dividido em três partes. Era preciso colocar de maneira lisa e direta, sem imperfeições, mas minhas costas são como quaisquer costas: elas têm textura, têm pelos. Aos poucos, a equipe foi se acostumando. No início, o processo demorava umas três horas, e no final, faziam em pouco mais de uma hora. Quanto à sensação, é difícil dizer, porque eu não vejo as minhas costas! Apenas sabia que a tatuagem estava lá. Enquanto Yahya, pessoalmente, não como Sam Ali, sabia que precisava ter um grande cuidado. Se eu batesse as costas, arranhasse, ou transpirasse demais por baixo da camiseta, a equipe precisaria arrancar tudo e recomeçar do zero. Essa era a minha principal preocupação.
Os dois personagens sofrem opressões sociais: como vocês interpretam a decisão de Abeer de se casar com um homem que não ama, e a de Sam Ali, de vender as costas ao artista?
Dea Liane: Fico feliz que me pergunte isso, porque de fato, acredito que exista um paralelo entre os personagens. Os dois estão numa situação de aprisionamento, e precisam tomar uma decisão. O filme se foca em Sam, mas Abeer também passa por isso. Para mim, no início, foi difícil entender a escolha dela, porque eu jamais teria feito algo parecido. Mas tentei imaginar como uma garota daquela classe social agiria, com a sociedade tradicional de seu país. Aos poucos, fui compreendendo. Voltei às minhas origens: eu nasci na Síria, mas cresci na França, então tenho um pouco das duas culturas. A princípio, Abeer é passiva demais, ela se deixa levar pelas circunstâncias. Mas depois, as ações de Sam Ali para tentar se libertar a ajudam a se libertar também. Os dois caminhos se cruzam. Adoro isso no roteiro.
Yahya Mahayni: No fundo, acho que a atitude de Sam Ali é admirável, porque ele faz tudo isso por amor. Quando consegue o visto e vai à Bélgica, ele não se empolga com isso. Qualquer outra pessoa pensaria: dane-se essa situação, vou cheirar cocaína, comprar um carrão, dormir num hotel de luxo. Mas ele enviava dinheiro de volta à família. Os objetivos dele eram admiráveis. Outras decisões do personagem foram mais questionáveis, e tive certa dificuldade de compreendê-las: às vezes, ele era egoísta em relação a Abeer. Ela precisou se casar, por motivos compreensíveis, com um sujeito que a trata bem. Mas Sam espera que, mesmo assim, ela abra mão de tudo para ficar com ele. Mesmo quando ele ainda estava em Beirute, trabalhando numa fábrica de frango, como ela poderia largar tudo por esse rapaz? Eu julgava um pouco o personagem, mas me esforcei para não fazer isso, e ter mais empatia. Todos nós já nos apaixonamos e fizemos besteiras por amor. Sam ali vai além.
É difícil determinar se esta jornada é otimista ou pessimista. Como encaram o ponto de vista do filme sobre a liberdade?
Dea Liane: Para mim, é um filme otimista. Kaouther poderia ter criado outro final para a história. Ela parte de uma situação pessimista quanto ao mundo em que vivemos, mas de maneira irônica, cínica. O filme é quase uma caricatura, exagerada, mas existem pessoas que realmente são humilhadas e passam por situações como essas. Mas Kaouther enche essa história de esperança, encontrando uma tangente nesta lógica. Nenhum deles fica preso à condição de vítima.
Yahya Mahayni: Concordo com a Dea. Espero respeitar a perspectiva de Kaouther quando digo isso, mas ela explicou em outras entrevistas que não aguentava mais encontrar histórias sobre pobres refugiados tratados como vítimas. A ideia era que Sam pudesse dar a volta por cima. Ela imaginou outros finais: existiram treze versões do roteiro! No final, ela queria que Sam vencesse o sistema, com certa nuance. Jeffrey inclusive diz: “Sabe o que é pior do que ser vencido pelo sistema? É ser ignorado por ele”. No final, o artista depende desse sistema para o status e a aprovação. Na minha opinião, quem realmente se emancipa é Sam.
Qual é a responsabilidade ética da arte, e dos artistas, ao representarem o sofrimento alheio?
Yahya Mahayni: Depende do que você considerar como o tema central do filme. Para mim, interpretar qualquer personagem implica numa responsabilidade ética, num esforço e num trabalho imensos. Mas aqui, não acho que Kaouther pretenda mostrar a realidade da vida dos refugiados. Essa é obviamente uma ficção: nunca ouvimos falar em refugiados recebendo uma proposta como aquela oferecida a Sam Ali. Acredito que o mais importante seja sublinhar a contradição: por um lado, defende-se os direitos humanos e a vida humana, mas por outro lado, atribuímos importância excessiva ao dinheiro. Inicialmente, eu me senti ilegítimo em interpretar Sam. Conheço outros atores sírios muito bons, inclusive refugiados que se mostraram excelentes atores, como o de Cafarnaum (2018). Por que eu mereceria essa oportunidade mais do que eles? Mas atuar numa ficção é uma coisa, e fazer um documentário seria bem diferente. No final, consegui domar meu desconforto.
Dea Liane: Tive uma sensação parecida. A princípio, não me sentia a melhor escolha para encarnar aquela garota, mas isso me deu a oportunidade de me sentir menos desconfortável em relação ao que ocorre na Síria. Como vivo na França, eu vejo a guerra à distância e me sinto impotente, enquanto tenho a sensação de perder a conexão com as minhas origens, meu território, minha língua e minha família. O fato de interpretar Abeer no filme me deu a oportunidade, enquanto atriz francesa vivendo na Europa, de fazer algo a respeito, trabalhando ao máximo para contar esta história e transmitir o debate ao público. Não sei se consegui, mas era uma tarefa muito importante para mim, num aspecto pessoal. Abeer também tem um caráter claramente fictício, pela aparência, pelo modo de se portar. Ela não é tão próxima da realidade assim, mas ainda diz muito a respeito de várias garotas naquela situação.
Como se prepararam para o papel?
Dea Liane: No começo, improvisamos bastante durante os testes, mas quando descobrimos que tínhamos sido escolhidos, fizemos encontros em Paris, dentro de um apartamento grande e vazio. Éramos apenas nós três: Yahya, Kaouther e eu. Ela pegou o roteiro como uma tela em branco, e nos disse: “Esqueçam o texto. A situação é essa: improvisem”. Assim, ela ia encontrando os enquadramentos, a maneira de filmar. A primeira sessão foi muito difícil, porque precisei improvisar em árabe, o que não é a coisa mais fácil do mundo para mim. Acabamos criando diversas situações entre amantes que permaneceram na versão final. Essa foi a primeira parte.
Yahya Mahayni: O roteiro foi bastante modificado a partir das nossas descobertas durante os improvisos. Também fizemos mais sessões, durante um mês antes das filmagens. É importante lembrar que este é um filme de baixo orçamento: tudo precisou ser bem planejado com antecedência. Não tinha espaço para fazer algo como De Olhos Bem Fechados (1999), com 70, 80 tomadas por vez. Existia uma limitação de tempo e dinheiro. Então não tivemos a oportunidade de fazer uma imersão no set: a gente chegava, conhecia os cenários uma vez, e pronto. Às vezes, a gente conhecia o ator com quem ia contracenar no próprio dia, ou na véspera à noite, e partia para filmar. Era estressante para a gente, e ainda mais estressante para a Kaouther. Ela é bem perfeccionista, e ficava atenta ao som, aos detalhes da direção de arte, aos movimentos de câmera, às escolhas de iluminação. Os atores são apenas uma parte deste processo todo. No começo, eu e Dea ficávamos perto dela, perguntando depois de cada tomada: “Como foi? Gostou? O que achou do que eu fiz?”. Depois de um tempo, entendemos que ela não tinha tempo para isso. Por isso, ela se dedicou bastante à preparação anterior. Na filmagem, ela só nos dava retornos em relação ao nosso trabalho quando eram negativos. Ela não dizia: “Nossa, está ótimo, adorei, continuem assim”. Foi estressante, mas também muito interessante. Às vezes, Dea e eu ficávamos tensos, mas a gente se lembrava dos motivos que nos levaram ali, do nosso propósito com o filme. Aí eu relaxava e me divertia mais.
Para vocês, qual é o impacto de exibir o filme em Veneza, e de receber a indicação ao Oscar? Acredita que estas janelas aumentam o debate?
Dea Liane: Não sei se o filme é capaz de despertar debates sobre a situação na Síria. Sou pessimista neste sentido: na Europa, tenho a impressão que fora de casos emergenciais, as pessoas nem prestam atenção ao que acontece por lá. Talvez algumas pessoas que viram o filme ficaram tocadas por estes personagens, e interessadas pelo tema. Mas acredito que o filme foi muito mais apreciado por sua mensagem geral sobre a liberdade do que pela questão síria. As reações sempre diziam respeito à liberdade, às nossas atitudes em momentos de privação de direitos e de humilhação, num aspecto mais filosófico. Com a chegada da Covid-19, foi um milagre o filme ser exibido no Festival de Veneza e receber a indicação ao Oscar. Sem isso, talvez ele tivesse passado despercebido. Para você ter uma ideia, ele nem está sendo exibido nos cinemas franceses, por causa da briga acirrada entre filmes que tentam ser lançados ao mesmo tempo. Por isso, fico feliz pelo reconhecimento que tivemos.
Yahya Mahayni: Pessoalmente, considero a questão dos refugiados sírios, neste projeto em particular, como um plano de fundo. Não é um documentário, nem uma reportagem. É um olhar ao paradoxo desses tempos em que atribuímos mais valor aos objetos do que às pessoas. Também é uma discussão sobre a predisposição humana a sacrificar princípios em nome de um objetivo maior. Sam Ali concorda em fazer algo que jamais teria aceitado fazer em outras circunstâncias. Ao concordar com isso, ele perde parte da dignidade. Mas isso acontece todos os dias: nós acabamos sacrificando princípios fundamentais para conquistar algo. Isso transcende a questão síria, e transcende até a questão dos refugiados em geral, de qualquer parte do mundo. Eu retiro muitas reflexões desse filme, mas para Sam Ali, a questão mais importante é reconquistar sua dignidade e liberdade. Espero que todos os espectadores possam se identificar com esta busca.