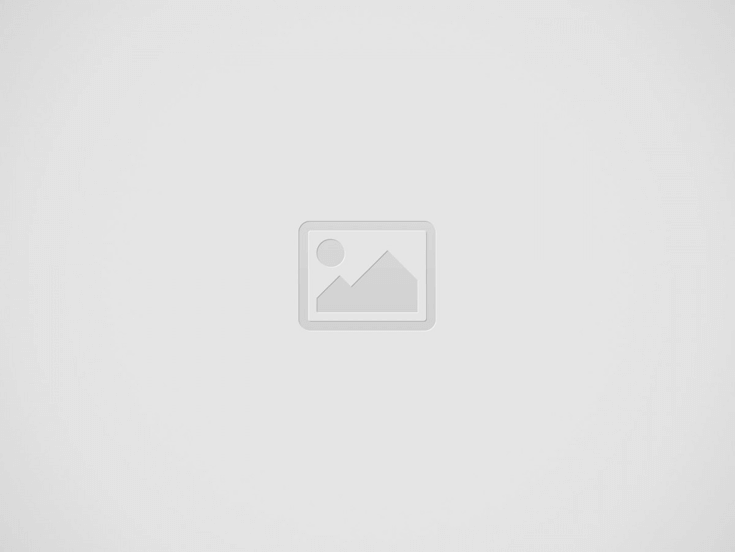

Lembra a última vez que ouviu falar de alguma telenovela cujo fracasso foi atribuído à falta de química entre os protagonistas? O mocinho e a mocinha não tinham química nenhuma juntos, pobres, era impossível dar certo. Não era culpa de ninguém, neste caso: nem da direção, nem dos atores ou do texto – o elenco era incompatível por algum motivo cósmico irremediável. O raciocínio, neste caso, não difere muito das articulações astrológicas segundo as quais a pessoa X e Y serão fundamentalmente incompatíveis devido à data de nascimento. Quem poderia ser culpado por seu signo, certo? É impressionante que esse tipo de ideia ainda prolifere em pleno 2020. Atores são convidados para testes de química com outros atores já contratados, para ver se interagem bem. Karim Aïnouz, um dos maiores diretores brasileiros, acredita que o bom ator, ou sobretudo atriz, seria aquele(a) capaz de reter a nossa atenção em silêncio, executando atividades banais como descascar uma batata. O resultado, julgando pelas atuações em O Céu de Suely (2006) e A Vida Invisível (2019), é de fato deslumbrante. Enquanto o recurso convier a estes criadores, o espectador só tem a ganhar. No entanto, o crítico de cinema possui um papel muito diferente do diretor ou do produtor de elenco.
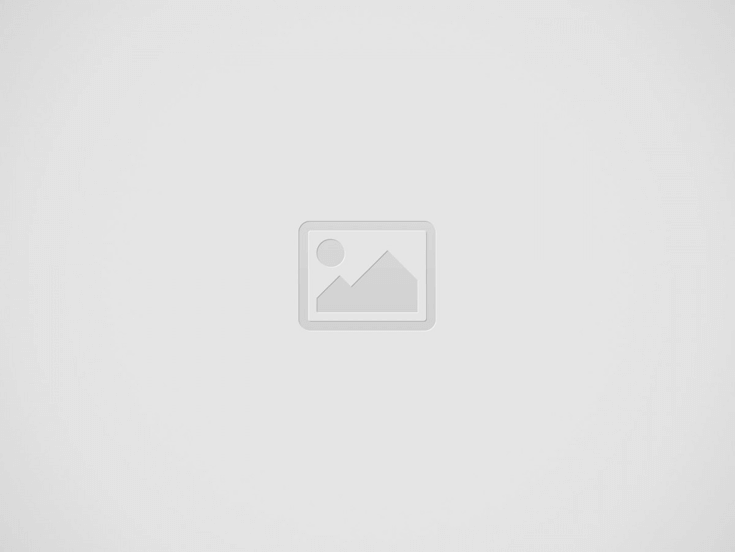

Não se defende aqui que a ideia de química cinematográfica seja completamente vazia ou incompreensível. Quando afirmamos que dois atores têm química, sugerimos que a interação entre eles funciona, convence. O problema se encontra quando a crítica de cinema, profissão da palavra e da argumentação por excelência, se apropria de noções tão inconsistentes. Quando um familiar explica não ter gostado de um filme porque ele “não tem graça”, porque “falta alguma coisa”, ou porque o personagem “não tem carisma”, este espectador não possui qualquer responsabilidade em desenvolver o seu raciocínio. Ele sabe do que gosta e do que não gosta, sem precisar se explicar a quem quer que seja. A crítica de cinema opera no espectro inversamente oposto – e talvez seja este o movimento essencial permitindo separar o cinéfilo amador do escritor profissional. Espera-se do crítico que justifique suas impressões, traduzindo o sentimento em raciocínio e possibilitando uma expansão dos sentidos. Talvez ele se contradiga, talvez não convença num argumento em particular, ou ainda defenda num filme o recurso que desprezou num projeto anterior. No entanto, o movimento da crítica consiste em não apenas destrinchar a obra, mas questionar as próprias impressões em mutação perpétua (ou ao menos, assim se espera).
Por este motivo, as noções de química, charme, carisma e tantas outras tornam-se ferramentas fracas de debate, ou melhor, ferramentas que não convidam ao debate. Quando se decreta que um ator não possui charme ao interpretar um personagem em especial, impede-se a investigação que levou a tal conclusão. Por que o ator pareceu deslocado naquela interpretação? O texto seria artificial, a impostação e o gesto corporal não seriam compatíveis, ele estaria em dissonância com as roupas, os cenários, com o registro dos demais atores? O que significaria o fato de um ator não possuir carisma? Ele seria pouco expressivo, pouco versátil, teria dificuldade de manejar a fala, de criar pequenos gestos adequados ao enquadramento em questão (no caso do cinema)? Quem seria responsável por estas impressões, afinal? O principal problema associado a estes conceitos consiste na atribuição de uma responsabilidade do destino – em outras palavras, na isenção de responsabilidade dos criadores, que se veem impossibilitados de melhorarem nos trabalhos seguintes. Ou se tem, ou não se tem charme. Ou se tem, ou não se tem carisma. Isso não seria trabalhado, desenvolvido, construído pela luz, pelo enquadramento, pelo personagem. Da mesma maneira que as teorias do autor dos anos 1950 e 1960 acreditavam na detecção de “talento” atemporal – ou seja, caso você tenha talento, sempre o terá até o fim de sua carreira -, o mesmo valeria para o charme, carisma ou para a química entre dois ou mais atores.
Trata-se de conceitos associais, que impedem a inserção de um trabalho artístico dentro de um contexto. Além disso, impedem que se observe estas pessoas enquanto profissionais do cinema, que desenvolvem a sua arte ao longo do tempo, em condições específicas e mutáveis. O Dicionário Teórico e Crítico de Cinema (2008), escrito por Jacques Aumont e Michel Marie, traz um apanhado bastante completo de termos referentes à linguagem e apreciação do cinema, no entanto, nenhum destes conceitos imprecisos se faz presente, talvez por não serem considerados elementos determinantes da estética. O conceito descrito pelo dicionário que mais perto chegaria desta noção se encontra na ideia de “fotogenia”, ou seja, “o que ‘fica bem’ na fotografia, que é por ela valorizado, que aparece sob uma luz inesperada, interessante, poética ou encantadora”. Mesmo assim, os autores precisam, no mesmo verbete, que “a noção banalizou-se e empobreceu-se, passando para o vocabulário corrente da fotografia de moda e para a fotografia em geral; no cinema, foi em Hollywood que a prática subsistiu, sobretudo em torno da noção de glamour”.
Os teóricos tocam então na questão de empobrecimento de significados, no que se chamaria popularmente de “muleta” da crítica de cinema. Ora, uma das razões de existir da crítica se encontraria no exato oposto: o enriquecimento de interpretações. Quando questionados sobre a definição de imoralidade, os políticos conservadores norte-americanos da era de Richard Nixon respondiam: “Eu não sei definir o que é imoral, mas sei muito bem o que é imoral quando o encontro”. O desvio de lógica permitia todo tipo de arbitrariedade legal baseada numa interpretação convenientemente flexível. Esta organização do conhecimento culminaria na antiintelectualidade contemporânea, ao impedir a argumentação e fugir dos pensamentos contrários. No caso específico da crítica, isso equivaleria a dizer: “Sei que o trabalho deste ator não me convence, porém não sei dizer o porquê”. Compreende-se por que críticos de cinema, inclusive o autor deste artigo, utilizaram e continuam utilizando termos como a química, o charme, o carisma e afins: trata-se de rótulos de fácil utilização para o autor, e de fácil compreensão para o leitor. Estes são recursos retóricos, no sentido de provocarem uma reação (sabemos imediatamente se a apreciação foi positiva ou negativa) sem implicarem numa busca específica de origens ou causas. É outra palavra, trata-se de um recurso de fácil alcance, utilizado dentro uma profissão que se esforça em articular uma demanda crescente de textos, vídeos, filmes, sofrendo com o frágil reconhecimento social.
No entanto, os críticos de cinema deveriam ser os principais guardiões da qualidade da profissão, tão dispersa em tempos de redes sociais e blogues. Se por um lado aplaudimos a possibilidade de pessoas de quaisquer formações poderem exercer a crítica, por outro lado acendemos o alerta sobre a dispersão da crítica, compreendida enquanto ferramenta de diálogo artístico (entre a imagem e a palavra, entre o cinema e a literatura) com tantas opiniões imediatas e vazias de cinéfilos apaixonados. A crítica só tem a ganhar com o abandono do charme, do carisma, da química, dos filmes “indispensáveis”, “necessários” e tantos outros recursos retóricos próprios à época do clickbait. Cabe à crítica não apenas desenvolver uma percepção aguçada, mas justificá-la em palavras. Se não gostei de tal atuação, por que ela me soa falsa? Como traduzir este incômodo a alguém que não assistiu ao filme, ou não viu com os mesmos olhos, nem pelo mesmo ponto de vista? Sem o constante questionamento de si próprio, a crítica se aproxima da classificação sumária de filmes entre bons ou ruins, “imperdíveis” ou “a evitar”, atuações boas ou ruins. Para este tipo de comentário, a crítica não se faz necessária nem possui razão de existir.