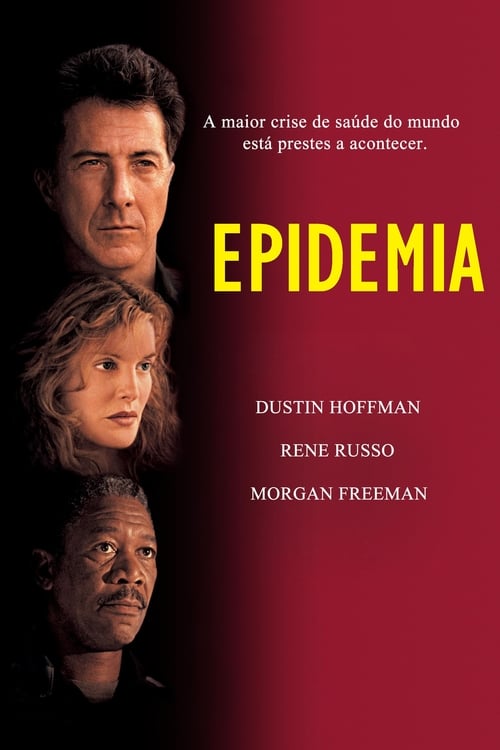
Sinopse
Chefe do departamento de pesquisas epidemiológicas, Sam investiga uma nova doença muito contagiosa, responsável por dizimar um acampamento militar na África. A população de uma pequena cidade dos Estados Unidos começa a ter os sintomas, o que leva o exército a colocar a localidade inteira em quarentena.
Crítica
Ainda que tenha sido identificado pela primeira vez em 1976, foi somente na metade dos anos 1990 que o virus Ebola se tornou um nome reconhecido ao redor do mundo, graças ao chamado “segundo grande surto” da doença, verificado em 1995, na República Democrática do Congo. Com uma taxa de mortalidade de até 90% dos infectados, foi mais do que suficiente para incendiar as imaginações dos executivos de Hollywood, que acreditaram estar diante de uma nova modalidade dentro do filão de filme-catástrofe tão em voga alguns anos antes por lá. Porém, dentre vários projetos similares encomendados na época – um dos mais comentados se chamaria Hot Zone, com direção de Ridley Scott, e astros como Mel Gibson e Sylvester Stallone também chegaram a se envolver em produções semelhantes que, no entanto, acabaram não indo adiante – o único que de fato chegou às telas e provocou algum barulho foi esse Epidemia, que se teve alguma relevância dentro daquele contexto específico, hoje, mais de vinte anos depois, e sob a visão da pandemia do coronavirus, se revela ainda mais problemático.
Tal percepção se deve graças à visão maniqueísta e simplista do diretor Wolfgang Petersen (O Barco: Inferno no Mar, 1981) e dos roteiristas Laurence Dworet e Robert Roy Pool (Armageddon, 1998). Em Epidemia, assim como na vida real, o vírus – na ficção apelidado de Motaba – teve origem no coração da África. Só que, sem uma cura ou vacina que minimizasse os efeitos da infecção, a solução do exército norte-americano, responsável por conter seu avanço, é tão absurda que se aproxima perigosamente das narrativas mais paranoicas: eles simplesmente explodem a vila que é centro do contágio, acreditando que, ao dizimar os doentes, estariam, também, eliminando a ameaça e impedindo que a mesma se alastrasse sem controle. Como bem se sabe, no entanto, tal medida não só é despropositada, como também ineficaz. E ainda que leve um mês, um ano ou uma década, o perigo voltará a se manifestar.
É o que acaba acontecendo quando um macaco é capturado e levado para os Estados Unidos, onde termina contrabandeado e solto numa mata qualquer. O primeiro a ter contato com ele logo se vê doente, e antes que perceba o que se passava já havia contaminado a namorada, o dono na loja de animais e quem mais tenha cruzado seu caminho. Esses, por sua vez, também se encarregaram se espalhar o vírus por outras paragens, e assim por diante. Nesse ponto, portanto, qualquer ação similar àquela de tantos anos antes, empreendida num outro continente e distante de tudo e todos, além dos distúrbios morais e sociológicos que gerariam, também não poderiam sequer ser cogitadas, uma vez que, na prática, sua eficácia seria mínima. Porém, é exatamente a isso que o espectador acaba presenciando: uma repetição de ideias, em outros destinos, mas nas mesmas proporções.
Dustin Hoffman, em papel pensado para Harrison Ford, devia estar com os seus dois Oscars empenhados quando aceitou interpretar um oficial médico que decide ir contra todas as ordens superiores que lhe são destinadas, justamente por se ver como o único capaz de, literalmente, fazer a coisa certa. Ao seu lado estão Rene Russo, que também funciona como interesse romântico, pois aparece como a ex-esposa com a qual ele busca desesperadamente uma segunda chance – sim, há muita DR no meio do caos – e Cuba Gooding Jr (um ano antes de conquistar o Oscar por Jerry Maguire, 1996), além de um incensado Kevin Spacey, bem distante da montanha de acusações de assédio sexual que praticamente enterraram sua carreira. No sentido oposto da maré, Morgan Freeman se esforça como um militar indeciso entre cumprir ordens e seguir seu instinto, enquanto que Donald Sutherland deita e rola como o general mais careteiro de toda a sua carreira (e olha que a competição é acirrada).
Com mais de duas horas de duração, Epidemia sofre também de uma narrativa errática, que busca investir em sequências de ação – há um inexplicável embate de helicópteros lá pelas tantas, por exemplo – quando o foco das suas atenções deveria ser em laboratórios e livros de pesquisa. Partindo de um argumento, no mínimo, absurdo – estão doentes? Melhor matar todo mundo, então – e promovendo à condição de heróis aqueles que estão simplesmente fazendo seus trabalhos, o filme naufraga também pelo excesso de reviravoltas sem sentido e becos sem saída, ao mesmo tempo em que desgasta o interesse da audiência com soluções tiradas do fundo da cartola – quem dera na vida real fosse tão fácil encontrar uma solução como a vista por aqui. Sem funcionar como thriller de ação e nem como estudo de caso médico, não serve como parâmetro, mesmo diante do pior dos cenários. E em tempos em que a realidade há muito parece ter superado a ficção, é preciso mais do que uma corrida contra o tempo para elevar os ânimos. Se na época em que foi lançado já soava mais fantasioso do que qualquer um pudesse ser levado a crer, hoje resigna-se enquanto curiosidade mórbida, por pior – e inevitável – que seja essa escolha de palavras.
Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)
- Sessão da Tarde :: Fé nas Alturas, filme dessa segunda-feira (21/4), é baseado em uma história real? - 20 de abril de 2025
- Operação Vingança - 20 de abril de 2025
- Dá o Papo :: Nós explicamos o contexto do drama Sempre Garotas - 19 de abril de 2025
Grade crítica
| Crítico | Nota |
|---|---|
| Robledo Milani | 3 |
| Chico Fireman | 5 |
| Francisco Russo | 5 |
| MÉDIA | 4.3 |






Deixe um comentário