
Crítica
Leitores
Sinopse

Castle Rock

Castle Rock :: T02
| Episódio | Data de exibição |
|---|---|
 Castle Rock :: T02 :: E01 Castle Rock :: T02 :: E01
|
23/10/2019 |
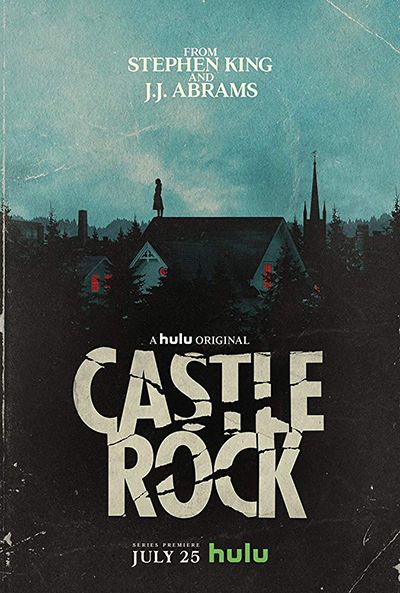
Castle Rock :: T01
| Episódio | Data de exibição |
|---|---|
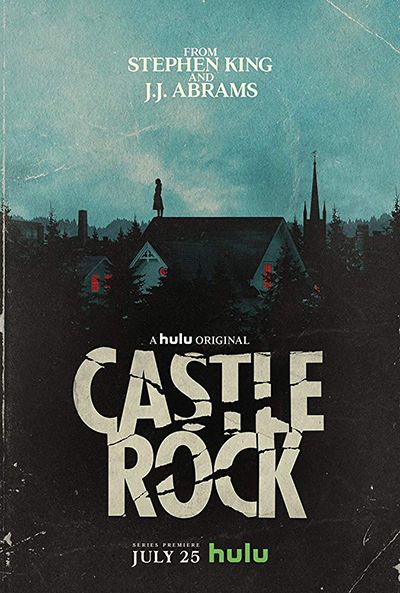 Castle Rock :: T01 :: E10 Castle Rock :: T01 :: E10
|
12/09/2018 |
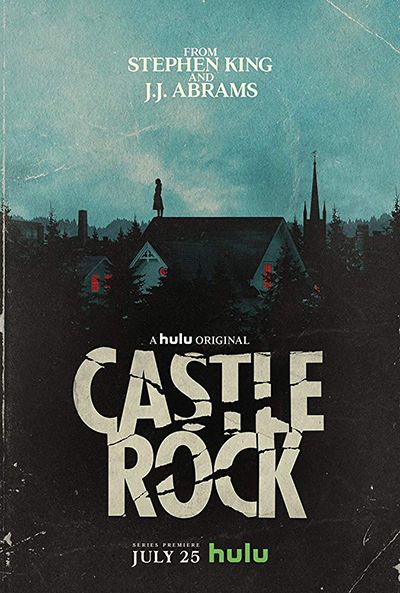 Castle Rock :: T01 :: E09 Castle Rock :: T01 :: E09
|
5/09/2018 |
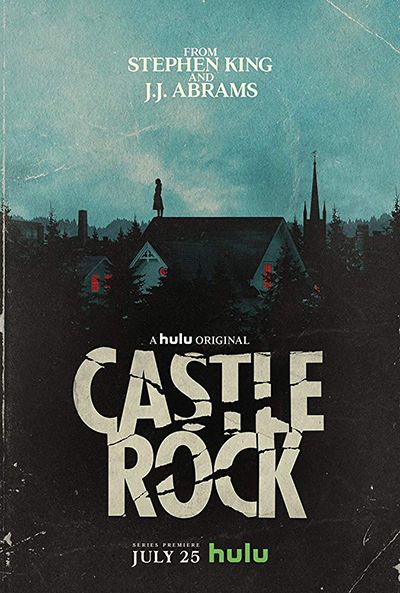 Castle Rock :: T01 :: E08 Castle Rock :: T01 :: E08
|
29/08/2018 |
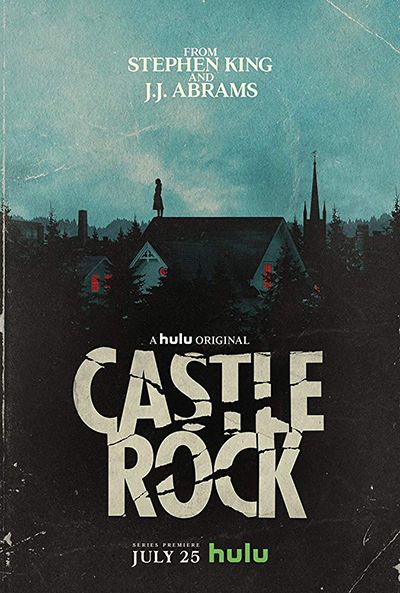 Castle Rock :: T01 :: E07 Castle Rock :: T01 :: E07
|
22/08/2018 |
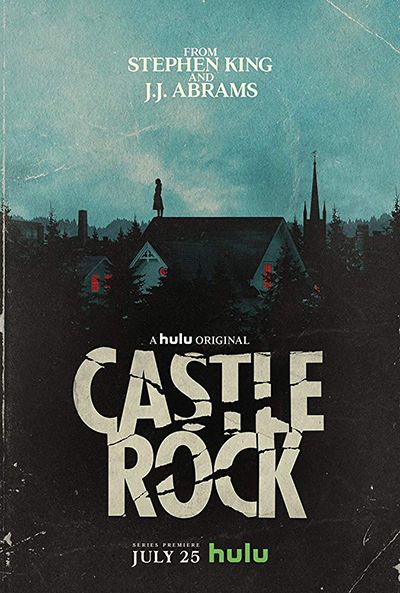 Castle Rock :: T01 :: E06 Castle Rock :: T01 :: E06
|
15/08/2018 |
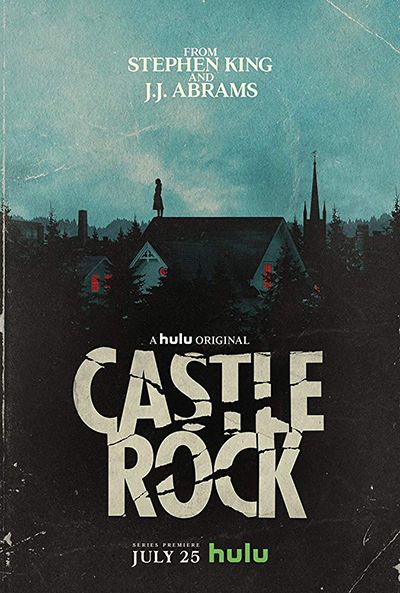 Castle Rock :: T01 :: E05 Castle Rock :: T01 :: E05
|
8/08/2018 |
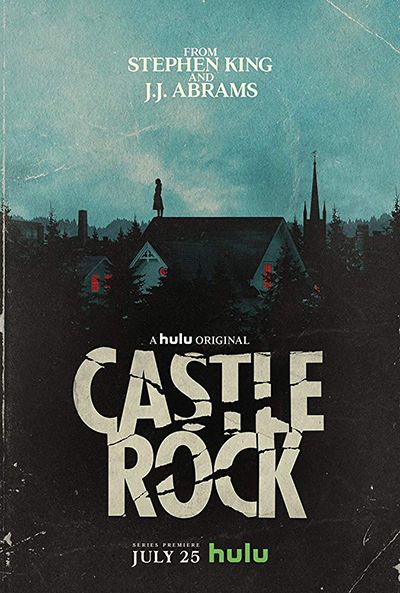 Castle Rock :: T01 :: E04 Castle Rock :: T01 :: E04
|
1/08/2018 |
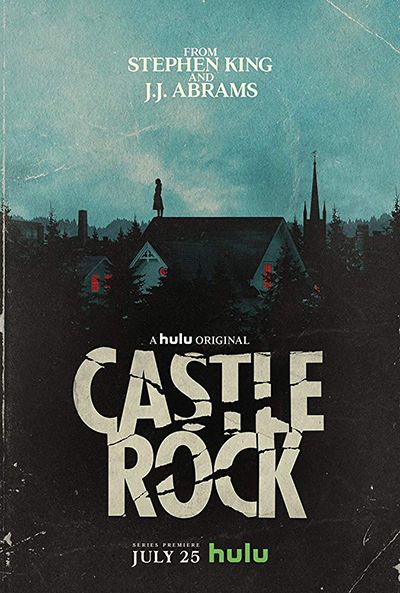 Castle Rock :: T01 :: E03 Castle Rock :: T01 :: E03
|
25/07/2018 |
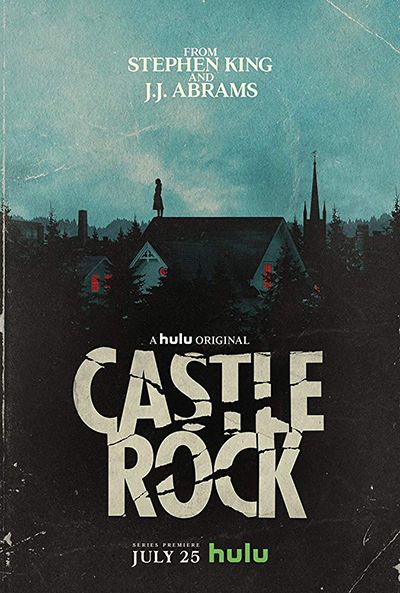 Castle Rock :: T01 :: E02 Castle Rock :: T01 :: E02
|
25/07/2018 |
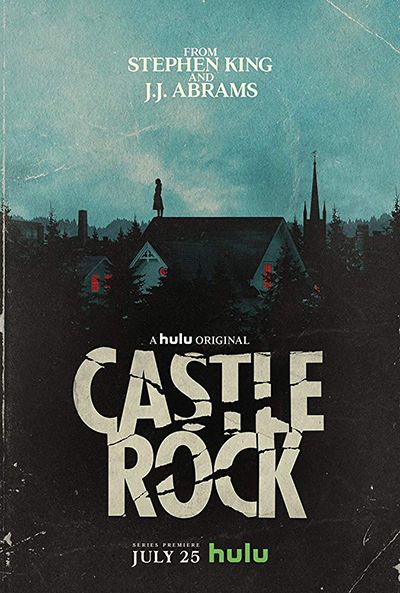 Castle Rock :: T01 :: E01 Castle Rock :: T01 :: E01
|
25/07/2018 |
Crítica
A julgar pelo episódio inicial, é promissora a segunda temporada de Castle Rock, antologia nutrida pelo amplo universo do escritor Stephen King. O primeiro ano teve altos e baixos, apresentando episódios excelentes e outros – especialmente os do encerramento – muito abaixo da média, com várias questões instigantes sendo respondidas displicentemente. A sequência começa mostrando a enfermeira Anne (Lizzy Caplan) e sua filha, Joy (Elsie Fisher), em deslocamento constante pelos Estados Unidos. Um clipe deflagra o padrão que orienta tal trânsito, com a profissional de saúde surrupiando antipsicóticos dos hospitais nos quais trabalha temporariamente, evadindo tão logo a carga necessária para manter o equilíbrio mental seja satisfatória. Adiante, é como se a cidade fictícia, presente em vários escritos de King, as tragasse para uma tensão que envolve fortes brigas familiares e alguns fantasmas inquietos.

Lizzy Caplan carrega nos traços peculiares para construir Anne, personagem que já tinha sido exemplarmente encarnada por Kathy Bates em Louca Obsessão (1990) – papel que, inclusive, lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz. A nova intérprete tem o olhar vidrado e um modo de caminhar bastante característicos, sinais que ganham evidência nos instantes de abstinência. Ainda que se trate obviamente de uma série filiada abertamente ao horror, Castle Rock, nesses movimentos inaugurais, também apresenta uma novidade que é a contextualização social, vide a presença de imigrantes somalis na localidade. Porém, talvez esse traço de comunicação com a realidade arrefeça por conta da prevalência de uma rixa familiar que, de forma escancarada, faz alusão à história bíblica de Caim e Abel, além dos sintomas shakespearianos, como o acréscimo do patriarca de contornos trágicos, neste caso o enfermo Pop (Tim Robbins).
Pelo que dá para entender a partir de Let The River Run, a galeria de tipos e situações peculiares de Stephen King será entremeada pelo componente cristão, especificamente as engrenagens que fazem parte de determinadas narrativas da bíblica. Indício disso, além do paralelo entre a disputa do irascível Ace (Paul Sparks) e o não menos irritadiço Adbi (Barkhad Abdi) com a rivalidade dos filhos de Adão e Eva, é o surgimento, em duas oportunidades diferentes do episódio, de gafanhotos em quantidade abundante, o que aponta possivelmente às pragas contidas nas escrituras consideradas sagradas pelo cristianismo. Somente no decurso da trama será possível compreender melhor de que maneira essas relações serão fortemente estabelecidas, mas, de cara, soa como uma mistura auspiciosa para gerar bolsões de instabilidade e auxiliar à construção de uma mitologia híbrida, quiçá o sustentáculo de um enredo maior.

Let The River Run não deixa muito espaço para que entendamos esse novo momento da cidade, senão a partir da disputa entre os irmãos pelo controle da especulação imobiliária. Estima-se que, sobretudo a partir dos desdobramentos dos elos que se estabelecem de pronto – o de Joy com potenciais amigos; o de Anne com a médica que faz vista grossa à ilicitude do roubo de remédios no hospital; a do próprio Pop com os rebentos em litígio –, muita coisa acabe vindo à tona. Castle Rock, aparentemente, vai misturar algo que diz respeito ao patológico, ou seja, à esfera médica, e a excepcionalidade oferecida pela singularidade de uma cidade acossada por toda sorte de espíritos vagantes. Lizzy Caplan, coberta de sangue, mirando fixamente o horizonte como se quisesse recuperar, ao menos, a aparência racional, é uma imagem forte, que, pelas conjunturas, provavelmente se repetirá com novas conotações.
Últimos artigos deMarcelo Müller (Ver Tudo)
- É Tudo Verdade 2025 :: Copan e Escrevendo Hawa vencem a 30ª edição do festival de documentários - 15 de abril de 2025
- Hot Docs 2025 :: Filmes brasileiros são selecionados para o festival canadense de documentários - 15 de abril de 2025
- Lumen :: Inscrições abertas para a 1ª edição do festival de cinema independente do Rio de Janeiro - 15 de abril de 2025



