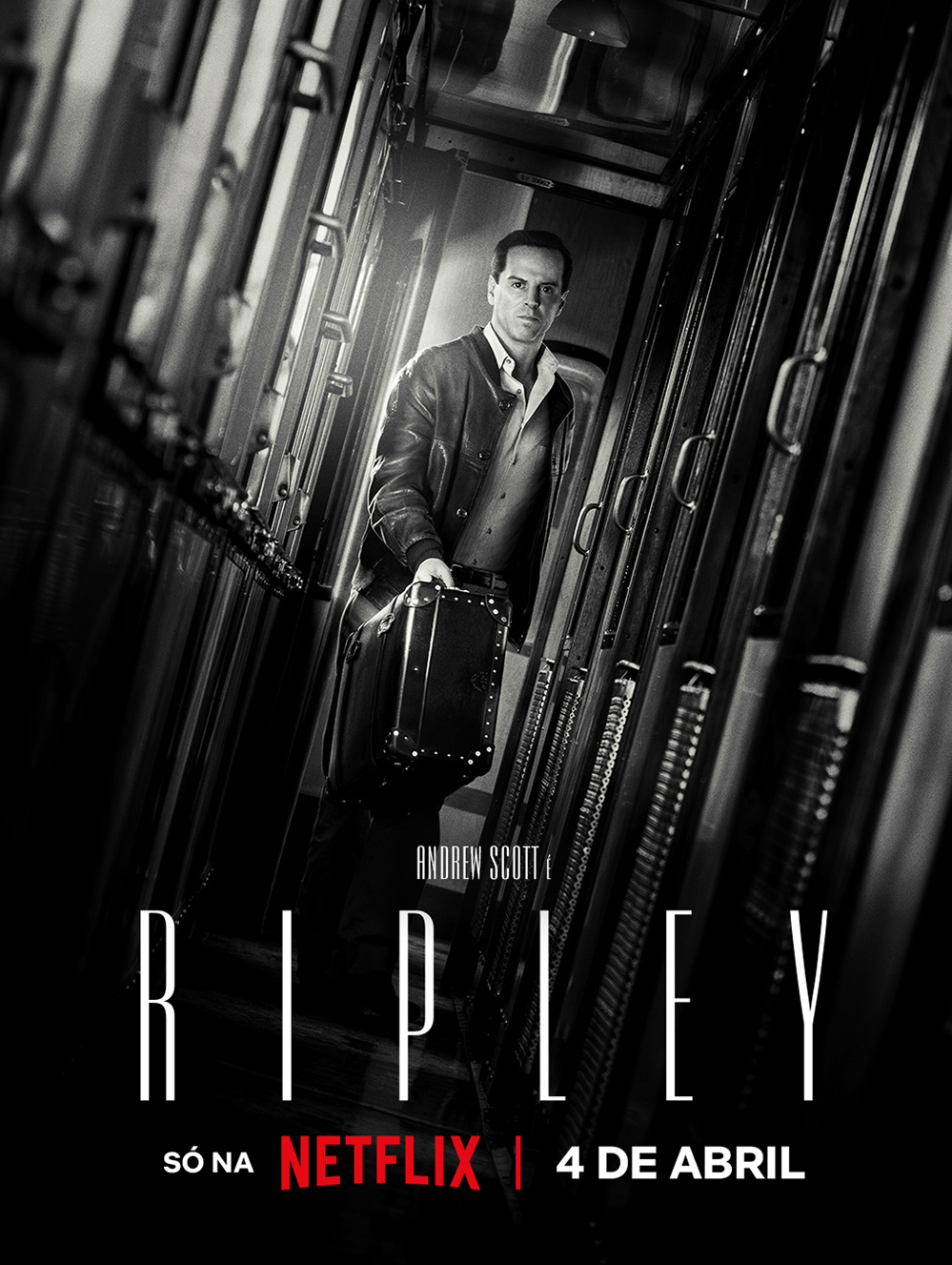
Crítica
Leitores
Sinopse
Tom Ripley é enviado ao sul da Itália para convencer Richard Greenleaf, um jovem playboy, a voltar para os Estados Unidos. Ao chegar lá, no entanto, se encanta com o estilo de vida do rapaz, e percebe que, se não pode se juntar ao herdeiro nesta existência de muitos prazeres e poucas obrigações, só há uma coisa a ser feita: matá-lo e assumir sua identidade.
Crítica
Há um senso comum, principalmente entre espectadores novatos e cinéfilos de uma geração mais recente, que costuma colocar “imagem bonita” e “fotografia eficiente” como sinônimos. A impressão é de que o quadro, ou seja, aquilo que o audiovisual – seja um filme ou uma série – exibe em determinado frame, tivesse a obrigação de buscar uma estética agradável, atraente, quando muitas vezes a cinematografia de uma história deve almejar justamente o oposto, pois sua função não é agradar a quem assiste, e, sim, se ocupar em expor aquela trama da melhor maneira possível. Quando a obra em questão apela para um registro em preto e branco, essa confusão se torna ainda mais evidente, tanto pela escassez desse retrato nos dias de hoje, como pela inexperiência da audiência frente a esse tipo de olhar. Eis, enfim, a primeira impressão causada por Ripley, minissérie que retoma o livro escrito por Patricia Highsmith e publicado em 1955, já levado às telas em duas ocasiões anteriores, ambas no cinema: O Sol por Testemunha (1960), de René Clément, e O Talentoso Ripley (1999), de Anthony Minghella. A direção de fotografia de Robert Elswit (vencedor do Oscar por Sangue Negro, 2008) é tão rebuscada que termina por criar um ambiente etéreo, desconectado da realidade. Tom Ripley, o personagem principal, por sua vez, é alguém de anseia por algum tipo de conexão. Seus atos provém da negação, e são consequência de cada rejeição que recebe. Mas as diferenças entre livro e série não param por aqui.

Talvez o mais grave dessa adaptação conduzida por Steven Zaillian seja, justamente, a retirada do adjetivo do título – e da história. A ausência pode ser motivada por uma questão prática: caso o sucesso dessa primeira leva de episódios se comprove, outras temporadas podem ser encomendadas. Afinal, Highsmith entregou nada menos do que cinco volumes com suas aventuras, e não seria surpresa se cada ano se encarregasse de transpor um destes romances para a telinha. Mas há um ponto que não pode ser ignorado. Tom Ripley é um psicopata, isto é certo. Mas não é habituado a deixar as coisas ao sabor do vento. Pelo contrário, e este é o seu maior talento, trata-se de um tipo manipulador e calculista, capaz de antecipar movimentos e sempre preparado para qualquer um dos cenários que possam se formar, tanto contra quanto a favor de suas intenções. Não é, portanto, um jogador habituado a lidar com a sorte. No entanto, esta versão se aproxima mais dos desenlaces vistos em filmes de Woody Allen, como Crimes e Pecados (1989) ou Ponto Final: Match Point (2005), nos quais o suspense residia numa questão de sorte. O Ripley de Highsmith não se permitiria a isso. Ao contrário deste delineado por Zaillian.
Bom, o enredo base continua o mesmo: Ripley é contratado pelo milionário Herbert Greenleaf, em Nova York, para ir até a Itália e convencer o filho deste, o playboy Richard ‘Dickie’ Greenleaf, a voltar para casa. O empresário toma essa atitude por acreditar que os dois rapazes são amigos – o que não é, necessariamente, uma verdade. Ele deseja ter o garoto novamente em casa, visto que a esposa – e mãe do ausente – está doente. O que era encarado como um período de férias há muito deveria ter acabado, e está mais do que na hora do herdeiro retornar e assumir suas responsabilidades. A partir desta premissa, é de se imaginar jovens dando os primeiros passos em suas vidas adultas. Foi assim que a escritora neles pensou, e como foram concebidos nas adaptações anteriores. Dessa vez, porém, temos à frente do elenco Andrew Scott, um ator inegavelmente talentoso, mas muito velho para ser Tom Ripley – ele tem quase 50 anos. Johnny Flynn, que aparece como Dickie, não só está também na idade errada – já passou dos 40 – como também não é bonito o suficiente para gerar a inebriante impressão de conquista e sedução naquele que vai ao seu encontro. O fascínio que supostamente um deveria exercer no outro nunca se torna factível em cena, seja pela opacidade da câmera, ou pelo modo desajeitado que estas figuras se apresentam.

Mas vamos em diante. Tom vai para a Europa determinado a cumprir o que lhe foi pedido. Uma vez lá, seria natural ficar tão encantado com o que se depara que não apenas esquece os motivos que o levaram, como muda de lado, decidindo seguir os mesmos passos de Dickie. Porém, não há charme no cenário encontrado. Há um homem entediado e uma garota sem sal, nem pimenta. Marge não é namorada, mas também não se mostra como apenas uma amiga. É alguém que está ao seu lado, tão perdida e sem rumo quanto ele – ou talvez um pouco menos, uma vez que se apresenta como escritora de um livro que não sabe se um dia será editado. O preto e branco rouba o calor do sol, o azul do mar, o suor dos corpos. Mesmo assim, o visitante se recusa a ir embora, e quando é ameaçado ser deixado para trás, toma uma atitude radical: assassina o homem que o recebeu, passando a assumir sua identidade. Tom não existe mais, restou apenas Dickie, porém com um novo rosto. Quem o conheceu, portanto, não mais deverá vê-lo. E a todos os outros, o cartão de apresentação conduzirá a uma nova pessoa. Mas esse clímax, a mudança de personalidade, se dá no final do terceiro episódio. Há mais da metade pela frente. E muito pouco acontece nestas mais de cinco horas, além de um convite ao espectador que deverá acompanhar o protagonista se esquivando, com maiores ou menores níveis de coincidências ou azares, dos investigadores que passam a persegui-lo.
Um gigantesco diferencial apresentado na versão de Minghella era um olhar mais escancarado em relação à suposta homossexualidade do personagem principal. Estaria Ripley apaixonado pelo rapaz Greenleaf? Highsmith, apesar de ter sido ela mesma uma mulher lésbica (é autora também de O Preço do Sal, que deu origem ao filme Carol, 2015, sobre uma relação entre duas mulheres), se esquiva deste tema na estreia de sua criação mais famosa, e não há nada no livro que possa sugerir tal abordagem. Zaillian, por sua vez, fica no meio termo: nada tão ostensivo quanto no filme de 25 anos atrás, mas sem muita dissimulação como na obra literária. É curioso, porém, o uso equivocado do termo queer, que certamente não era usado, ao menos não nesse contexto (Dickie faz questão de afirmar não ser “um homem queer”, ao se sentir assediado por Ripley). Tal referência voltará apenas mais adiante, oferecendo um desfecho que também não condiz com o imaginado pela autora (e mais próximo da versão cinematográfica). Igualmente, pouco apropriado é a busca por alívios cômicos, como as tantas escadas no refúgio ao sul italiano, ou a testemunha que possui o mesmo nome do seu cão – inserções que destoam do ritmo perseguido na maior parte do tempo. Os encaixes deslocados chegam ao ápice com as manchas de sangue deixadas pelas pegadas de um gato em um sangue vívido, chamando atenção entre tantos tons de cinza. Se lembrarmos que Zaillian foi roteirista de A Lista de Schindler (1993), que fez uso do mesmo recurso (como esquecer da menina judia de vestido roseado?) na produção vencedora do Oscar, percebe-se que não se trata de um toque original, mas sim de uma gratuita repetição de um recurso que funcionara três décadas atrás, mas que agora apenas serve para denotar uma falta cruciante de novas ideias.

A despeito da idade destoante e do roteiro que o exime da maioria dos seus verdadeiros talentos – a capacidade de falsificação, imitação de vozes, reprodução de pequenos gestos – o Tom Ripley de Andrew Scott é assombroso, e talvez seja o maior motivo para se manter atento ao longo de tantos capítulos (três ou quatro poderiam ter sidos descartados com facilidade, um gesto que em nada prejudicaria o resultado, apenas aumentado sua agilidade e dinamismo). O intérprete britânico oferece uma composição fria e distante, evitando maiores perturbações morais no desenho de um tipo doentio e perverso, mas ainda assim carismático o suficiente para envolver e assustar. É lamentável o que este contexto o faz passar, como o uso de perucas e repetição de ‘muletas narrativas’, como a insistência em produzir em si um apreço pela pintura (como se já não bastasse a posse, buscaria ele também o espírito?) e a série de mentiras fúteis, que servem apenas para adiar um desmentido previsto para ser anunciado logo em seguida. Ripley, a minissérie, tem o mérito de manter vivo uma criatura absolutamente hipnotizante, e a classe e elegância vista por aqui é algo que ele pela vida toda irá almejar, sem nunca, no entanto, se dar por satisfeito. Mesmo a pequena participação, nos minutos finais, de John Malkovich (ele próprio um Ripley mais interessante no frustrante O Retorno do Talentoso Ripley, 2002) não é suficiente para dotar o conjunto do sarcasmo e vilania merecidos. Muita forma, com certeza. Mas em que ponto o conteúdo se perdeu? Talvez esse seja o maior dos mistérios.
Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)
- As Aventuras de uma Francesa na Coréia - 10 de abril de 2025
- Desconhecidos - 3 de abril de 2025
- Branca de Neve - 2 de abril de 2025





Deixe um comentário