
Crítica
Leitores
Sinopse
Crítica
Brooklyn Nine-Nine é uma daquelas séries que não demoram a nos cativar. Além dos roteiros espertos, cheios de piadas criativas e com um ótimo timming cômico, seus personagens são carismáticos. Quando chegamos ao fim da oitava e derradeira temporada do programa, fica ainda mais evidente que os integrantes dessa divertida delegacia policial de Nova Iorque formam um delicioso bando de desajustados. A começar pelo seríssimo Capitão Holt (Andre Braugher), cuja liderança foi alcançada depois da luta pública pelo fato de ser um homem negro assumidamente homossexual; a questão racial também provavelmente se impôs como um considerável empecilho nos caminhos de Terry (Terry Crews), Rosa (Stephanie Beatriz) e Amy (Melissa Fumero). Por sua vez, Charles (Joe Lo Truglio) é o tipo de figura imprescindível numa equipe, mas seu comportamento entusiasmado/sem noção talvez tenha rendido eventos não tão felizes diante dos valentões da escola? Bem provável. Scully (Joel McKinnon Miller) e Hitchcock (Dirk Blocker) são detetives que já tiveram os seus anos áureos. Atualmente, eles não fazem tanta questão de combater a aura de pesos-mortos (pelo contrário, pois fazem de tudo para confirmar essa leitura). E, por fim, o protagonista Jake Peralta (Andy Samberg), o antes menino que sempre sonhou em ser policial e teve de conviver desde cedo com a ausência paterna. Não é tão arriscado dizer que amamos esses personagens porque eles são falíveis, porque têm arestas e pontos cegos.

A oitava temporada de Brooklyn Nine-Nine não traz nada de tão surpreendente ou mesmo de transgressor com relação ao que estava sendo feito. Por exemplo, no quesito "novidade" está longe do ano em que tínhamos Peralta e Holt afastados de todos por viverem num programa de proteção a testemunhas. Pode-se dizer que o último ano é conservador. Isso tem implicações positivas e negativas. Começando pelas últimas consequências, os roteiristas não conseguem resolver tão bem uma equação que eles próprios propõem nos primeiros episódios: o alinhamento com a realidade, sobretudo com os fatos mais recentes que impactaram o mundo. Nos primeiros planos, vemos personagens de máscara na delegacia e comentando lógicas inseridas no contexto da pandemia da Covid-19. Esse pano de fundo rapidamente deixa de ser algo relevante. Quando muito vemos adiante figurantes transitando de máscara enquanto, curiosamente, personagens fixos nem mais fazem menção à grave crise sanitária do mundo. Outra tentativa parcialmente bem-sucedida de alinhamento com a realidade mais recente é a introdução da consciência de que nem todas as abordagens policiais são boas, consequência direta do factual assassinato de George Floyd por policiais norte-americanos. O caso que gerou ressonâncias globais é utilizado como válvula para introduzir na trama a reflexão sobre como a lei age.
O primeiro efeito dessa ponderação sobre o comportamento policial nas ruas é a saída de Rosa da delegacia. No entanto, por mais que ela se manifeste sobre o conflito de consciência que motivou a decisão – afinal de contas ela é latina, ou seja, faz parte de uma população frequentemente brutalizada pelos fardados dos Estados Unidos –, esse evento nem chega a criar um conflito emocional. Isso porque Rosa está sempre na delegacia, seja para ajudar nos casos que precisam de elementos extraoficiais (e os roteiristas inventam vários) ou a fim de continuar participando das dinâmicas comuns. Portanto, sua “saída” nem é sentida porque Stephanie Beatriz está sempre em cena. A grande sacada da conscientização da 99ª é, além da porta à ascensão policial de Amy, criar a desculpa ideal para o surgimento do último vilão da série: Frank (John C. McGinley), o líder ultraconservador e manipulador do sindicato dos policiais. Ele faz questão de acobertar as infrações dos sindicalizados como se isso não fosse grave. Algumas das circunstâncias mais engraçadas da oitava temporada de Brooklyn Nine-Nine passam por essa figura que representa outras não menos caricaturais da realidade norte-americana. É alguém que fala despreocupadamente sobre “racismo reverso”, critica o feminismo e a população que pede um maior comprometimento dos representantes da segurança pública com os cidadãos.
Então, se, por um lado, nada de novo sobressaia nos episódios derradeiros de Brooklyn Nine-Nine, por outro, existe a valorização daquilo que gira em torno de personagens e situações emblemáticas. Claro que temos a trama de Doug Judy (Craig Robinson) e de sua amizade verdadeira com Peralta; vemos mais de Kevin (Marc Evan Jackson), marido que Holt precisa batalhar para conseguir de volta (a separação toma grande parte da temporada); e o encerramento não poderia ser de outra maneira, senão numa dupla de episódios de assalto. Aos não iniciados, em todas as temporadas da série há um episódio de assalto. Nele, os personagens precisam entrar num jogo para desvendar enigmas, passar companheiros para trás, demonstrar as suas capacidades dedutivas e competitivas em troca de um título imaginário. E dá para dizer que as duas partes que encerram a série são dignas dessa tradição, com um sem números de reviravoltas rocambolescas, teorias sendo jogadas pelo ralo tão logo supostamente pareçam irrefutáveis e a aparição especial de algumas pessoas importantes da produção. Se trata de um grande fanservice catártico que prepara o fim e ajuda a compensar um pouco os desperdícios, tais como as dificuldades de Amy e Peralta para conciliarem a maternidade/paternidade com a carreira. E de todos os personagens, Boyle ganha um episódio definitivo para chamar de seu (dos melhores).

Entre mortos e feridos, o saldo da temporada final de Brooklyn Nine-Nine é positivo. Claro, há sacadas que nem de perto são aproveitadas como poderiam ser – sobretudo a ciência de que é preciso mudar os procedimentos policiais para todos se sentirem realmente seguros. Porém, na medida em que o programa progride rumo ao encerramento, cresce uma sensação precoce de saudade dessas pessoas que nos fizeram rir e chorar por oito anos. De todos os personagens, o que tem o desfecho mais bonito é justamente Jake Peralta, o antes garoto voluntarioso que não cansa de transformar o trabalho numa aventura lúdica, geralmente recorrendo ao seu conhecimento de filmes de ação para isso. Mesmo que seja uma série cômica, ela deu contornos dramáticos específicos a cada um dos desajustados que evidentemente funcionam melhor em conjunto. E, desde o começo, o protagonista apalermado vivido brilhantemente por Andy Samberg era um sujeito imaturo e que tinha dificuldades com a paternidade. Nesses quase 10 anos, não foram poucas as vezes em que Peralta meteu os pés pelas mãos por ter um comportamento próximo ao infantil e egoísta (sempre tentando se afirmar e mostrar que poderia/deveria ser digno de respeito). Por isso, a forma como ele demonstra que finalmente cresceu é por meio da linda abnegação que, ao mesmo tempo, indica o fim da imaturidade e atesta que o egoísmo não é páreo para a vontade de ser um bom pai. O que fica é a saudade dessa série deliciosa.
Últimos artigos deMarcelo Müller (Ver Tudo)
- Saga :: Venom - 13 de dezembro de 2024
- Bagagem de Risco - 13 de dezembro de 2024
- GIFF 2024 :: Confira os vencedores do 3º Festival Internacional de Cinema de Goiânia - 13 de dezembro de 2024



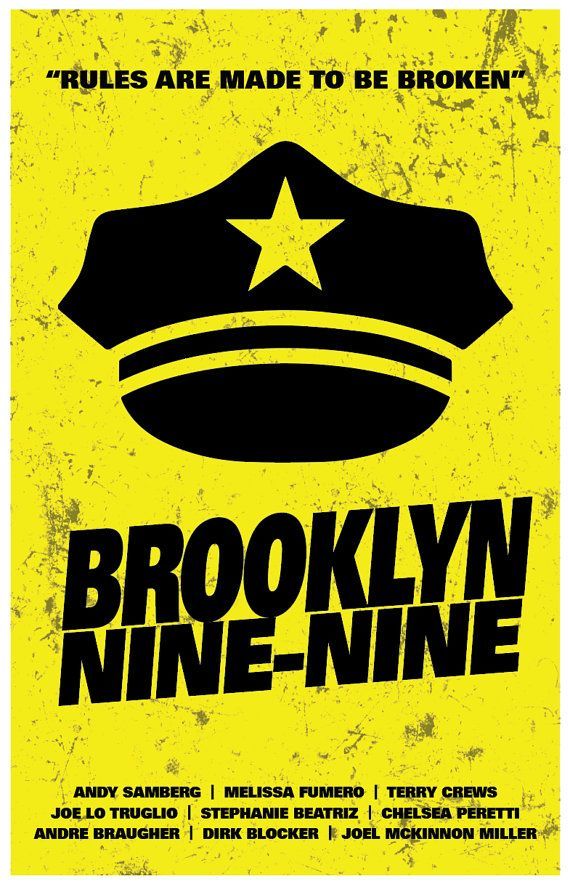




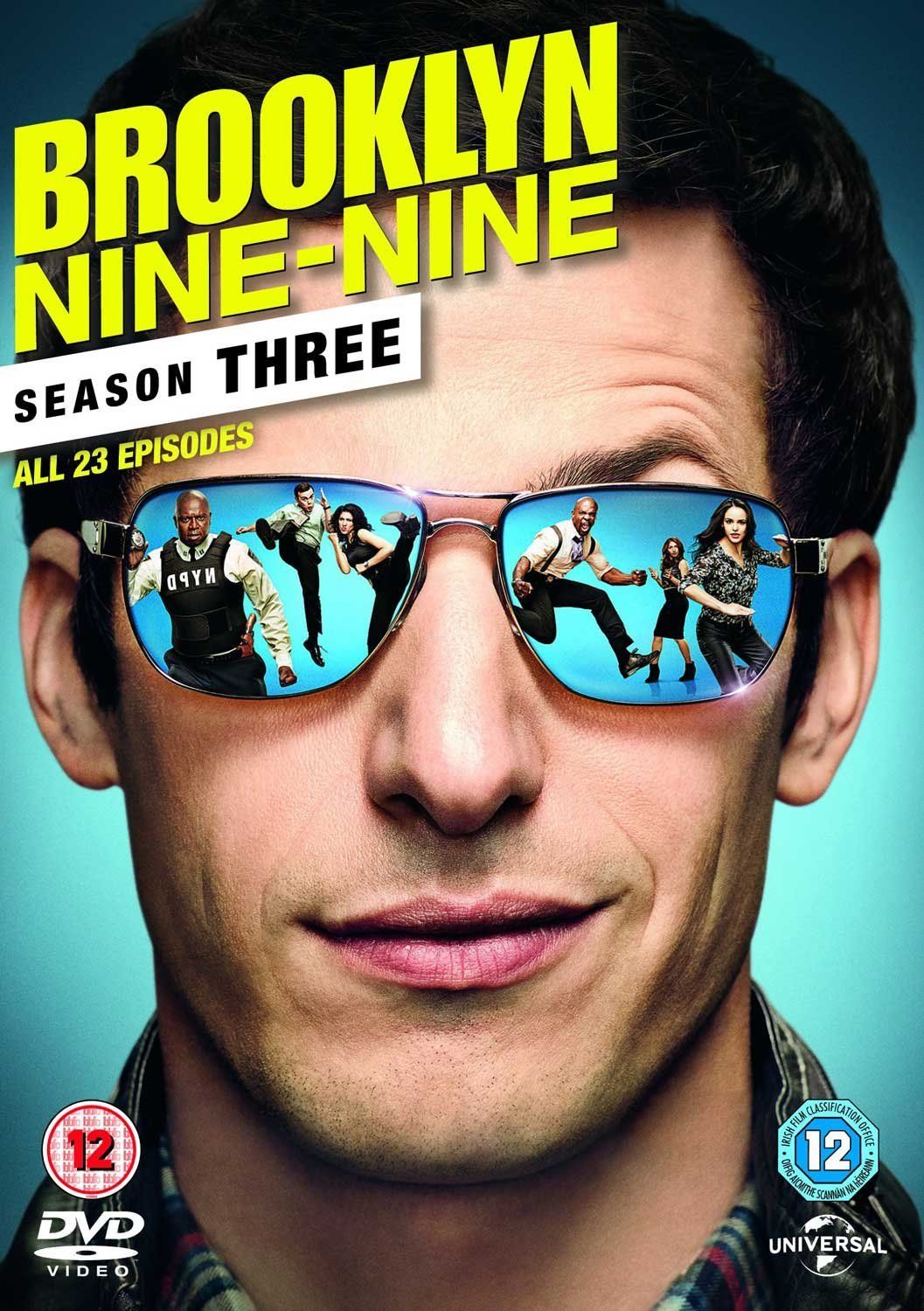
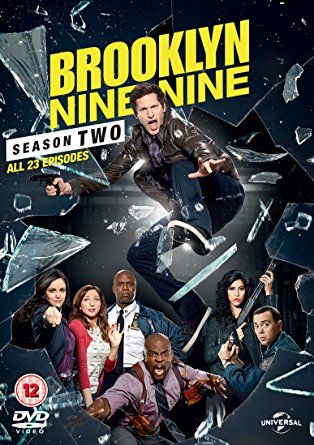

Deixe um comentário