
Crítica
Leitores
Sinopse
Forças malignas – reais e sobrenaturais – tentam destruir uma família negra que se muda para um bairro totalmente branco de Los Angeles nos anos 1950, durante o período historicamente conhecido como “A Grande Imigração”.
Crítica
A primeira temporada de Them (2021) traz, no primeiro episódio, cenas de crueldade animal e de uma criança seriamente ferida no pescoço. Nos episódios seguidos, são exibidas sequências de pessoas queimadas vivas, de olhos perfurados, dedos arrancados, membros cortados, um bebê assassinado, enforcamentos, estupros, sequestros, automutilação, incêndios criminosos, profanação de cadáver e violência policial. Pessoas negras são chamadas de macacas, mulas, atrasadas intelectualmente, incapazes de trabalho sério, violentas, histéricas, monstruosas, promíscuas, sujas, perigosas, comparadas a mofo. Há cenas graves de humilhação e agressão (física e psicológica) dentro de casa, na rua, na comunidade, na escola, na igreja, na empresa, no bairro rico, no bairro pobre, dentro do ônibus, no comércio, com o funcionário negro e com o funcionário branco. A família no centro desta série constitui uma versão contemporânea de Justine, a heroína do livro homônimo do Marquês de Sade, estuprada múltiplas vezes por todas as pessoas ao redor, inclusive aquelas de aparência gentil, até ser morta por um raio do destino – literalmente. Sade criava a representação máxima de uma mártir da sexualidade, já Little Marvin desenvolve a figura arquetípica dos mártires do racismo.

O showrunner e a produtora executiva Lena Waithe promovem uma denúncia da discriminação racial, eliminando qualquer dúvida quanto à clareza da mensagem. Os protagonistas negros são atacados pelos brancos da primeira à última cena, sem exceção. São retiradas as possibilidades de respiro e poesia, assim como a ingênua crença na conciliação racial por meio do afeto. Enquanto alguns realizadores enxergam o conflito pelo que poderia ser (ou seja, pela possibilidade de superação das diferenças), os autores deste projeto veem em cada ferida da negritude norte-americana a base de uma ideologia fundamentalmente segregacionista. Esqueça a ambiguidade moral ou a insinuação de um racismo cotidiano: os choques se tornam frontais, explícitos, sangrentos. Os vizinhos brancos odiosos possuem uma única função dentro desta história: perturbar os protagonistas. Eles não desempenham atividades autônomas nas quais o preconceito se refletiria organicamente: neste pesadelo, convertem-se em bichos papões destinados a brutalizar o pai, a mãe, as duas filhas – e consequentemente, o espectador. Os heróis adotam a postura de vítimas e sobreviventes, resistindo a uma infinidade de agressões ao longo de míseros dez dias.
No entanto, a abordagem do choque corre o risco de surtir tanto efeito quanto as imagens de pulmões corroídos e pessoas entubadas no verso dos maços de cigarro – ou seja, provocar a repulsa e o recalque imediatos. Quantas pessoas pararam de fumar por causa destas ilustrações? Em paralelo, quantos espectadores se espera sensibilizar a partir deste calvário sem fim? Os autores nutrem uma relação ambígua com o racismo enquanto objeto de estudo. Ao público negro, imagina-se que o teor sádico dos episódios resulte no incômodo do dedo enfiado numa ferida jamais cicatrizada, ao limite da perversão. Aos brancos, será difícil provocar qualquer forma de identificação, e de possível debate, a partir do estereótipo de figuras brancas asquerosas. É claro que nos posicionamos do lado da família negra, pura e resiliente: a trama se desenvolve pelo ponto de vista deles, enxergando no quarteto as únicas figuras dotadas de humanidade. Por este fator, críticos internacionais evocaram o termo black trauma porn, ou seja, a exploração pornográfica (no sentido de despertar prazer e entretenimento) a partir das dores negras. Seria possível ir além: na tentativa de denunciar os inúmeros abusos cometidos contra comunidades negras, a série tortura seus personagens sem parar, despertando dúvida sobre o lado ao qual se filia. Em alguns aspectos, a abordagem grosseiramente bruta dos diretores se assemelha mais à obsessão racista de Betty (Alison Pill) do que ao desejo de emancipação dos Emory.

A produção reflete o esmero de uma série tratada como prioridade pelos investidores. Them transparece cuidado nos enquadramentos, na iluminação, na direção de arte dedicada em reconstruir as roupas, penteados, carros e casas da década de 1940. Em paralelo, opta por um elegante enquadramento em scope, rigidamente composto, refletindo a rigidez moral e a dificuldade de mudanças. Em contrapartida, alguns aspectos incomodam em relação às imagens suntuosas: primeiro, a necessidade de reforçar esteticamente a maldade evidente pelo roteiro. Cenas em ângulos inclinados provocam a aparência de inadequação, enquanto filtros vermelhos sugerem perigo, a trilha sonora dissonante se repete, e as canções trazem letras obviamente irônicas (canções de famílias felizes sobrepostas ao martírio cotidiano). Ainda mais questionáveis são as escolhas de direção de fotografia: Checco Varese ilumina impecavelmente as peles brancas, porém deixa os rostos negros subexpostos, inclusive em cômodos claros, perto de janelas. A fotometria não foi definida a partir da pele negra, e sim da pele branca. Se este problema chama a atenção em projetos convencionais, ele se torna ainda mais flagrante numa série obsessivamente voltada ao tema do racismo, e dentro do gênero do horror, onde as sombras costumam ser associadas a aspectos negativos de caráter.
Estes problemas decorrem provavelmente do fato que a série é dirigida quase exclusivamente por homens brancos (comandando nove dos dez episódios, com exceção de Janicza Bravo), junto a um diretor de fotografia branco. Em tempos onde a representatividade à frente e atrás das câmeras se torna tão importante, surpreende a escolha de Little Marvin e Lena Waithe para funções criativas essenciais. Além disso, a tentativa de paralelismo entre as duas principais personagens pode ser questionada: por que a insistência em comparar a mãe negra, Lucky (Deborah Ayorinde), à esposa branca, Betty? Elas são postas literalmente frente a frente, protagonizando as cenas em que aparecem, e condicionando sua existência àquela da vizinha. Quando Lucky finalmente sai do ambiente doméstico, no episódio 8, Betty também deixa sua casa. Quando a protagonista negra volta ao lar, a vizinha branca efetua sua fuga, na tentativa de retornar a Compton. A transformação desta última na vítima de um inimigo inesperado resulta numa concessão à norma, em busca de introduzir, por meio do sofrimento, alguma humanidade à detestável personagem. (Não seria o sofrimento a única forma de empatia proposta pela série inteira, seja com negros ou brancos?) Ora, o apêndice envolvendo o personagem do leiteiro (Ryan Kwanten) se desconecta do resto da trama, adquirindo um caráter inconsequente, ao contrário dos outros dilemas, dotados de consequências graves até demais.
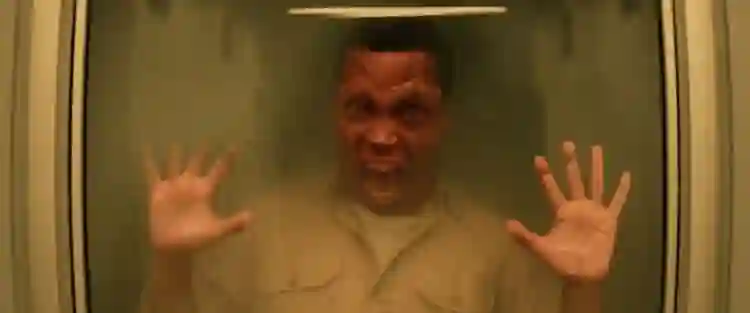
Ao menos, o elenco principal cumpre com facilidade o desafio de trazer ambiguidade às figuras unilaterais. Embora a série possa ser acusada de gaslighting e misoginia (visto que as duas personagens femininas principais se convertem em loucas, histéricas e incontroláveis), Ayorinde efetua belo trabalho de transição entre a cordialidade e o desespero face aos fenômenos aterrorizantes. Ashley Thomas possui uma composição tão expressiva que sequer precisaria dos inúmeros planos de detalhe dos pulsos cerrados para demonstrar a ira contida – mas a direção, como já vimos, evita sutilezas. As duas atrizes jovens, Shahadi Wright Joseph e Melody Hurd, demonstram impressionante talento com diálogos, sobretudo em cenas duras envolvendo um revólver na cabeça e a humilhação em público. (A este propósito, espera-se que os criadores tenham elaborado uma cuidadosa preparação psicológica para as duas crianças enfrentarem cenas tão perturbadoras). Em papéis secundários, os excelentes Brooke Smith e Liam McIntyre se destacam pelas sugestões de desconforto com a norma e pela representação discreta, porém certeira, da homossexualidade – precisamos mergulhar nas tramas terciárias para encontrar alguma forma de ambiguidade. Preparados para um caldeirão de violência extrema, os atores fornecem mais nuances do que a estética é capaz de proporcionar.
Por fim, Them atinge seus objetivos enquanto terror-espetáculo: os questionamentos decorrem da concepção sádica de horror social. O tormento interminável dos Emory se transforma numa jornada redundante: eles são negros, atacados apenas por serem negros, a partir de uma comunidade conservadora desprezível em todos os sentidos do termo. Mesmo as figuras sobrenaturais representam arquétipos do preconceito: o punitivismo de Miss Vera (Dirk Rogers) e o fundamentalismo religioso do Homem de Chapéu Preto (Christopher Heyerdahl), além do Homem do Sapateado (Jeremiah Birkett), caricatura grosseira das representações televisivas, utilizando um blackface e revelando-se, no final, o produto de uma mente branca. O flashback histórico do episódio 9 privilegia um cenário de exceção (a seita fundamentalista), ao invés de estudar a migração nos Estados Unidos, as cicatrizes do período Jim Crow, os estupros de mulheres negras, as lentas modificações do mercado de trabalho. O projeto se constrói a partir de contrastes evidentes: os brancos contra os negros, os maus contra os bons, os agressores contra as vítimas. Estamos distantes da complexidade social e psicológica das obras de Jordan Peele, às quais a série foi tantas vezes comparada. Ao invés do distanciamento necessário à reflexão, Little Marvin privilegia a imersão pelas sensações epidérmicas de medo, repulsa e surpresa. Them parte do pressuposto que o racismo é execrável, para chegar à conclusão, oito horas depois, de que o racismo é execrável.
Últimos artigos deBruno Carmelo (Ver Tudo)
- Ilha Silenciosa - 18 de setembro de 2025
- Eu, Empresa - 5 de setembro de 2025
- O Bem Virá - 15 de maio de 2025






Deixe um comentário