
Crítica
Leitores
Sinopse
Um lugar paradisíaco, mas nem por isso pouco movimentado ou menos cheio de questões fervilhantes. A cada dia de viagem surgem diversas narrativas envolvendo os funcionários de um hotel, os turistas e o próprio local.
Crítica
A frequente descrição da série como “um grupo de pessoas ricas e brancas desfrutando de seus privilégios num resort de luxo” pode despertar uma impressão equivocada deste projeto. De fato, a premissa inclui um grupo de norte-americanos endinheirados de férias num local paradisíaco. No entanto, o humor decorrente da caricatura (os hóspedes insuportáveis, os pobres funcionários explorados) passa longe do teor adotado pela primeira e catártica temporada - o projeto foi concebido em formato minissérie, mas será transformado em série antológica pelos produtores. O texto de Mark White fornece um olhar profundamente crítico em relação a todos os personagens, que estejam desfrutando dos quartos com vista para o mar ou atendendo ao telefone atrás de um balcão. A galeria de figuras fúteis se reveste de uma melancolia constante, pela direção e pelo roteiro. Em outras palavras, desaparecem o maniqueísmo e a ridicularização - o espectador é convidado a rir das tristezas destes visitantes, ao invés de suas trapalhadas. O humor decorre de um homem acreditando ter câncer nos testículos; o gerente sonhando em fazer sexo com um homem casado; um garoto expulso do quarto e obrigado a dormir na praia; uma mulher carente escolhendo o lugar ideal para despejar as cinzas da mãe. As piadas nascem da morte, ou do medo provocado por ela: a narrativa se abre com um cadáver sendo colocado dentro de um avião, deixando claro que um membro do grupo morrerá ao final do passeio.

The White Lotus (2021 - ) poderia ser compreendido como um ensaio sobre a civilidade. O audiovisual cômico (ou tragicômico, neste caso) se diverte com contextos marcados por códigos de conduta e regras de etiqueta: os casamentos, o primeiro jantar com os pais do(a) namorado(a), a importante reunião de negócios. A viagem num resort cinco estrelas produz efeito semelhante: os funcionários são aconselhados a sorrirem e acenarem, acolhendo qualquer pedido absurdo com uma resposta polida. Os hóspedes sorriem porque precisam mostrar felicidade uns aos outros, além de certo senso de superioridade em relação aos demais. Quando reclamam por um erro na reserva, efetuam a solicitação com uma falsa cordialidade nos lábios. Há inúmeros diálogos banais do tipo “Como está a família hoje? Tudo bem?”, “Estamos muito bem, obrigado”, servindo de motores de conflito por sabermos que, no fundo, ninguém corresponde a esta descrição. De fato, a única pessoa que rompe com a elegância burguesa é Tanya (Jennifer Coolidge), mulher de luto, considerada histérica e inconveniente pelos companheiros ao redor. A ironia jamais se converte em deboche: o olhar da direção demonstra carinho por este mosaico de indivíduos falhos e patéticos. Talvez seja justo dizer que, no local caríssimo concebido para atender a todos os prazeres, ninguém se diverte de fato - nem o gerente Armond (Murray Bartlett) em seus acessos de fúria regados a álcool e drogas.
Um dos méritos consideráveis do projeto se encontra na concepção estética. Os criadores não dependem apenas dos diálogos e dos atores para desenvolverem a trama, a exemplo de diversas séries tradicionais. Neste caso, a catarse se anuncia no horizonte, rumo ao clímax revelando a morte anunciada. O desenho de som cumpre um papel fundamental para despertar incômodo e estranhamento: aos poucos, os ruídos da natureza se tornam mais fortes, os sons de macacos invadem a trilha sonora, enquanto a composição com instrumentos de sopro desperta um efeito etéreo, porém perigoso. Os episódios possuem uma cor amarelo-esverdeada, ainda que dessaturada e com brilho excessivo, provocando efeito de cansaço e de desgaste. Em paralelo, o requinte do resort é rompido pela construção de quartos e restaurantes kitsch, com cortinas de abacaxis e desenhos de palmeiras. O mundo externo representa uma forma de violência, ao passo que a convivência interna, nos cômodos, resulta em desconforto - um garoto dorme na cozinha; a mãe muda os móveis de lugar; a jovem recém-casada se sente deslocada no local fino demais. A direção desenvolve o sentimento crescente de perturbação, através de conflitos repetidos e aumentados até a explosão: a luta pela suíte nupcial, a busca por uma mochila desaparecida, o conflito da mãe morta, o esforço em manter a sobriedade. Sabemos que estes esforços serão em vão, e quando a represa se romper, o caos tomará conta do hotel.
Mesmo assim, o elenco apresenta uma compreensão impecável do texto e do tom desejados pelo autor. Ninguém embarca no exagero paródico - Molly Shannon chega perto disso, mas se contém -, preservando o desespero contido, beirando a loucura. Murray Bartlett, em especial, demonstra uma amplitude dramática e cômica impressionante, enquanto Connie Britton oferece um dos melhores desempenhos de sua carreira através da figura “cuidadora" e compreensiva ao limite do ridículo: ela pede à filha que tenha compaixão pelo irmão, porque se tornou “muito difícil” ser um homem branco e heterossexual na sociedade contemporânea. O jovem Fred Hechinger mostra tamanha qualidade cênica que deve ser rapidamente aproveitada pela indústria nos próximos anos. Até Jennifer Coolidge, encarnando uma enésima versão de si própria, oscila entre a frivolidade e uma tristeza próxima da depressão. Eles possuem em mãos uma metralhadora de diálogos sarcásticos, aludindo à violência raramente concretizada em imagens (exceto pela conclusão). Os ataques verbais, as descrições sexuais explícitas e as insinuações favorecem o rico jogo cênico entre personagens que se digladiam silenciosamente, sem perderem o verniz de respeitabilidade. Sobram farpas à esquerda caviar, ao reacionarismo trumpista, ao colonialismo e ao imperialismo, à apropriação cultural e à luta de classes. Os laços precários formados entre o superior e seu empregado (por interesse sexual), entre a hóspede e uma massagista (por interesse econômico) e entre a universitária e um rapaz havaiano (por interesse amoroso) escancaram as desigualdades de maneira sofisticada e brutal.

Ao final, The White Lotus se encerra com a notável capacidade de nos fazer rir das convenções sociais, sublinhadas por sua artificialidade. O roteiro se diverte com o ataque de um ladrão, um relato de traição e com a descoberta da soropositividade de um parente, enquanto respeita a crise fútil do adolescente que perdeu o celular e a briga mesquinha de duas amigas por um funcionário musculoso. Ora, teria sido muito mais fácil adotar a seriedade para o primeiro caso, e o aspecto farsesco para o segundo. Busca-se a identificação do espectador no sentido de encontrar a capacidade de rir de si próprio, que ele se reconheça nos visitantes privilegiados ou nos trabalhadores uniformizados. A narrativa vai além de constatar um problema - a desigualdade, o preconceito, a concentração de renda -, investigando os efeitos psicológicos decorrentes destas questões. É compreensível que a história se inicie com um nascimento absurdo (a funcionária dando à luz no primeiro dia de trabalho) e se encerre com uma morte igualmente improvável, em circunstâncias risíveis. Mark White se confronta ao conservadorismo norte-americano ao retirar o tabu de assuntos sobre os quais “não se fala”: o sexo, o cocô, a masturbação, a joia caríssima como pedido de desculpas pela traição, o abuso emocional sofrido pela mãe, o jornalismo sensacionalista. No fundo, estas pessoas selvagens - os “comedores de lótus”, os “macacos" brancos e incivilizados - correspondem a qualquer um de nós, provocados a uma situação limítrofe. A série funciona por concentrar, num espaço isolado, ricos e pobres, pessoas brancas e negras/asiáticas/latinas, homens e mulheres, direitistas e esquerdistas, servidores e servidos. Talvez a única representação plausível para esta convivência fosse, de fato, o caos.
Últimos artigos deBruno Carmelo (Ver Tudo)
- O Dia da Posse - 31 de outubro de 2024
- Trabalhadoras - 15 de agosto de 2024
- Filho de Boi - 1 de agosto de 2024
Grade crítica
| Crítico | Nota |
|---|---|
| Bruno Carmelo | 9 |
| Ticiano Osorio | 9 |
| Daniel Oliveira | 7 |
| Lucas Salgado | 8 |
| Sarah Lyra | 10 |
| MÉDIA | 6.8 |




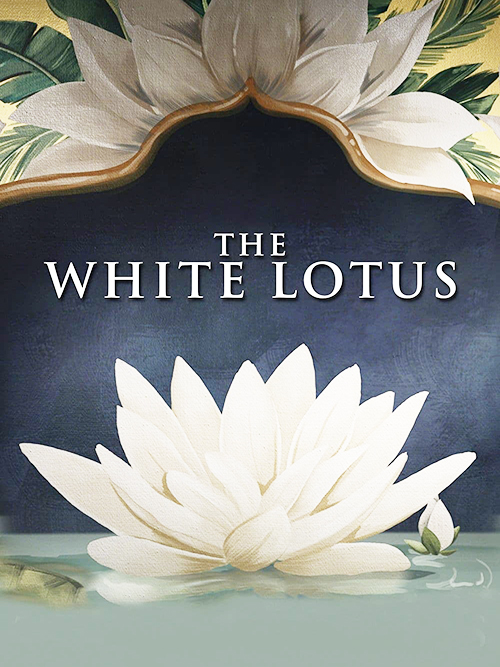


Connie Britton é muito boa, além de linda, ja tinha me enamorado dela na primeira temporada de AHS e ela me ganhou de vez em Dirty John. Aqui, está espetacular, e além do diálogo citado na crítica, adoro a conversa dela com a jovem recém casada, no início da temporada, que muda de tom sem um pingo de exagero. Jennifer Coolidge fazendo ela mesma mostra muitas nuances, graças ao roteiro e o enfoque dado, sendo realmente mais humana no personagem furacão-transloucada que lhe fez a carreira. Molly Shannon faz mesmo o personagem mais complicado de cair na caricatura (mas se sai bem), e tenho verdadeira fascinação com a quantidade de vezes que ela repete pra nora ( a quem evidentemente acha inferior) que no casamento ela estava INEGAVELMENTE LINDA, e que todos comentaram (uma forma condescendente de dizer que ao menos nisso ela tinha arrasado). A sutileza de situações também me agradou, como quando essa mesma recém casada, diante do deboche das meninas na piscina, sem esboçar nenhuma reação agressiva, mostra o corpo e caminha languidamente na água de maneira proposital, pra acabar com elas na única maneira (na cabeça dela) que sabe que pode sair por cima. Enfim, escrevi demais, ótima crítica, ótima minissérie, muito mais depois de um tempo pensando após acabar.